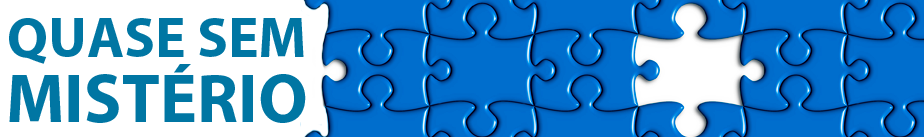Alessandro Faleiro Marques*
Esta época é excelente para algumas reflexões. Por todos os lados, vemos
mensagens, demonstrações de afeto (ainda que só em aparência) e até
sinceros gestos de perdão de si e dos outros, de recomeço, como deve ser
a vida. Diferente das muitas previsíveis mensagens a pipocar em todos
os meios, eu gostaria de desejar algo diferente neste ano: tenha o nosso
Natal menos brilho.
O nascimento de Cristo é, em si, um protesto divino contra uma certa
canalhice de nossos dias, inclusive nesta época do ano. Para explicar,
voltemos às origens, há mais de 2 000 anos. Contemplemos a cena de uma
criança obrigada a nascer em um nada estético e mercadológico curral da
minúscula Belém, envolto em faixas e colocado em um cocho. Sim,
engula-se: Deus nasceu pobre, muito pobre. A quem pensa que ser
abençoado é ter coisas, está aí um estridente recado. Desde ali, o
Menino Deus já iniciava sua missão. Os primeiros do povo a serem
avisados da grande notícia foram os pastores, trabalhadores discriminados na época. O mesmo seria na ressurreição (o maior
acontecimento da fé cristã), quando Maria Madalena, representante das
mulheres, foi a primeira a testemunhar a grande novidade naquela cultura
machista.
Sem firulas, ouso dizer: o Salvador deve rir de pessoas que gastam 12 mil reais em uma árvore de Natal, 11 mil para enfeitar a casa com
luzes coloridas, mas ignora um centavo para o próximo pôr pão na mesa,
pelo menos nesta época do ano. Ele deve dar gargalhadas de escárnio
contra quem acende luzes externas, enquanto as do coração continuam
apagadas, imbecis e artificiais como a neve de espuma de sabão a enfeitar
vários shoppings.
Caríssimos, oremos para que o Natal, de agora para frente, tenha mais
clareza e menos brilho. Destronemos o Papai Noel (não falo do corajoso
bispo Nicolau, santo) e coloquemos no lugar o presépio, criação do
ricamente pobre Francisco de Assis. Façamos a experiência de resgatar da
esmola das horas extras os trabalhadores explorados pelo sistema
adorador das trevas dos pisca-piscas. Em último caso, valorizemos os
artesãos, as lojinhas e as mercearias, aonde podemos ir a pé e somos
chamados pelo nome.
Senhor, obrigado pela chance de, pelo outro, podermos vê-lo, ouvi-lo e
sentir seu afeto e até os seus puxões de orelha durante todo o ano. Em
nome de nossa saúde, haja, em todas as mesas, as delícias do suficiente,
não só na ceia sagrada da noite da Estrela, mas em todas do ano. Que
caiam os números dos gráficos financeiros e cresça nossa felicidade. Que
resplandeça somente a sua luz. Amém.
A todos a minha clandestina, mas sincera, bênção “urbi et orbi”.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
sexta-feira, 11 de dezembro de 2009
Por um Natal com menos brilho
Marcadores:
Cotidiano,
crônica,
Espiritualidade
terça-feira, 10 de novembro de 2009
O Paraíso desde já: duas visões sobre a dor
*Alessandro Faleiro Marques
Hoje, o sexo já não é mais o principal tabu, mas sim as coisas ligadas à doença e à morte. Poucos frequentam com espírito sereno um ambiente de exceção, como um hospital, por exemplo. No contexto cristão, contudo, a dor tem um sentido interessante. Diferente da sociedade da produção, na qual o enfermo muitas vezes é visto como um peso, uma “peça defeituosa”, no cristianismo, aquele que sofre tem uma incumbência singular e, ao mesmo tempo, desafiadora para todos.
Para entender um dos olhares cristãos da dor, voltemos a uma célebre sexta-feira de quase dois mil anos atrás, em Jerusalém. Depois de passar por um dos julgamentos mais questionáveis da História, Jesus foi condenado a morrer na cruz. Segundo o evangelho, durante o caminho do Messias ao calvário, os soldados obrigaram um homem que voltava do campo a carregar o pesado madeiro, pois temiam que o Salvador não tivesse condições de chegar ao final do sinistro itinerário. Mesmo forçado, Simão, da cidade de Cirene (por isso conhecido como Cirineu), ajudou o Cristo a cumprir a Via Dolorosa e, assim, acabou tendo o nome imortalizado na história cristã da salvação (cf. Mt 27,32; Mc 15,21; Lc 23,26).
É possível fazer um paralelo entre o esforço daquele agricultor e o dos doentes. Uma linha teológica diz que os sofredores em geral, entre eles os enfermos, são aqueles que, ainda hoje, ajudam Cristo a carregar a cruz. Como Cirineu, que fez uma “caridade” sem querer, quem chora com a dor não quer passar por ela, mas ganha esse compromisso. Certamente, numa perspectiva de fé, como aconteceu com Simão, é reconhecido por Deus. Em outras palavras, o “dolente” (ou seja, aquele que sente dor) seria da “tropa de elite” divina. Participa do sacrifício messiânico em um dos momentos mais importantes.
Diferente do que acontecia há séculos, a dor não é mais tão destacada, mas sim a ressurreição de Jesus, a vitória sobre o tormento. A gente piedosa, porém, continua identificando-se com a agonia de Cristo. Basta ver que a cultura religiosa popular católica, especialmente a latino-americana, por exemplo, enfoca mais a Sexta-feira da Paixão do que a Páscoa.
O bom cristão, no entanto, não é conformista. Já neste mundo, ele tenta implantar o Reino celeste esperado e prometido. Na lógica da fé, não há dor no Paraíso. Por isso, quem realmente segue os ensinamentos de Jesus não admite sistemas de saúde precários, deficiência na prevenção e descaso contra os enfermos e profissionais que deles cuidam. Essa é a outra forma de o cristianismo ver a dor. A mortificação violenta voluntária, como faziam os antigos místicos, hoje tem pouco sentido.
A luta “para que todos tenham vida e em abundância” (Jo 10,10) é uma legítima tarefa cristã. O próprio Cristo tinha grande compaixão pelos sofredores, e não é difícil achar trechos dos evangelhos em que Ele cura, conforta, alivia o sofrimento físico e espiritual. Ele é o próprio exemplo para seus seguidores fazerem multiplicar, desde hoje, a alegria eterna, numa terra sem males (pelo menos os evitáveis), sem se esquecer da dignidade dos que sofrem.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
quarta-feira, 28 de outubro de 2009
Impressões da visita à Rainha Morena (4ª e última parte)
Encantamento e piedade não foram as únicas coisas a nos tocar na rápida peregrinação ao Santuário Nacional. A capital católica do Brasil também tem as suas profanas sombras. São em intensidade menor que as da outra, no planalto central. Em Aparecida, contudo, parecem incomodar mais justamente porque nos pegam despreparados.
Logo ao chegarmos ao estacionamento da Basílica, sentimos muita falta dos caminhoneiros. Um antigo costume leva os viajantes do Vale do Paraíba a fazerem um rápido pouso sob o manto da Mãe de Jesus. Onde estariam? Talvez lá, reduzidos na imensidão do templo, mas não os notamos. Que, pelo menos, os vejamos da próxima vez.
A questão do comércio, demanda histórica dos mais críticos, também nos chamou a atenção. Mesmo nós, resignados em um ambiente urbano, acostumados com lojas ávidas pelo dinheiro das multidões e alimentadas pelo carbono do ar, ficamos um pouco constrangidos com o tamanho do chamado “Centro de Apoio ao Romeiro”. Sinceramente, não é muito diferente dos shoppings populares espalhados pelo Brasil. Que o digam os fabricantes chineses. Tivemos certa boa vontade em ver de outro modo o espaço, mas não deu. Pensamos, por exemplo, ser a música tocada no centro da praça de alimentação uma dessas canções religiosas modernas. Não era. Como em qualquer bom palco violão-banquinho, soava um belo clássico de Djavan. Quando nos demos e fizemos as contas, as sacolas já pesavam nossas mãos. Ofegantes, nós nos flagramos com uma lista na mão e pouco no bolso. Não pudemos nos defender frente à nossa consciência. Durante pouquíssimas horas, perdemos o foco. Pagamos o preço. Literalmente.
Perder o rumo da alma em Aparecida é muito fácil. Uma tentação. Parque de diversões, aquário, mulher-macaco, feira que vende de um a tudo. O pior é quando eles nos perdem a vista. Ficamos chocados quando, do mirante da torre, encontramos só a ponta da outra, a da Basílica Antiga. Antes, do alto da colina, os peregrinos já podiam contemplar o histórico templo. Símbolo de uma viagem bem-sucedida. Um dos célebres milagres registrados na terra da Padroeira foi justamente o de uma menina cega que, ao ser levada pela mãe ao santuário, perguntou de longe se aquele que via era o templo de Nossa Senhora. A ganância de uns, a falta de senso histórico de outros e a ignorância de todos permitiram o cerco de concreto à antiga igreja. Prédios de péssimo gosto arquitetônico sufocaram a praça e parte da história do Brasil. O conjunto da igreja singela e da praça sobrevive, desfigurado.
Ainda quanto ao gosto, fomos vítimas de nosso orgulho. Pecamos de novo. Quando visitamos o santuário de Lujan, na Argentina, tentamos provar algumas das iguarias preparadas por nossos irmãos e vizinhos. As vísceras assadas definitivamente não combinaram com o calor úmido daquele dia. Mesmo assim, salpicando críticas cochichadas em português mineiro, engolimos alguma coisa. Pensamos que, em Aparecida, no nosso santuário, seria nossa apimentada "vingança". Caímos no canto da sereia, disfarçada de porteiro de restaurante. Comemos a pior comida de nossa vida. Um espaguete profano e ruim. Sem graça e caro, quase com direito a troco errado de sobremesa. Ponto para a Nossa Senhora de lá.
Para encerrar a lista das observações mais mundanas, não podemos deixar de mencionar de novo o comércio articulado dentro do próprio santuário. Contemplamos o mirante e o museu. Visita paga, mas justa e proveitosa. Na saída, a porta do elevador nos joga para o corredor demarcado por cordas. Contra a nossa vontade, vimo-nos empurrados para a lojinha, ao pé da torre. O silêncio mútuo da hora denunciou: não gostamos. À direita, outra loja: artigos religiosos, água do Paraíba e até ex-votos de cera. Como se eu, morando na casa de minha mãe, vendesse o presente que você daria para ela. Na gloriosa Sala das Promessas, o resultado: os membros de cera são praticamente iguais. Produção em série. Por conveniência, os peregrinos estão deixando de levar seus objetos cheios do colorido regional. Eles os compram ali, ao lado. O espaço, resumo do Brasil, como já dito nesta série, perdendo parte do brilho.
Não gostaríamos de terminar esta série falando mal da Mãe. Afinal, ela nos acolhe e sabe nosso nome. Temperos ruins, ganância e bolsos vazios não impedirão nossa volta à casa da Rainha Morena. Pecadores também somos. Como acontece quando nos aproximamos da mãe, aprendemos mais uma lição. Aqui virou reza: Mãe, negra e pobre como os pobres escravos, Rainha rica em bondade e beleza, fecha nossos olhos e ouvidos ao que nos desvia de teu Filho e de ti. Abre nossa alma para ouvirmos o teu silêncio sábio. Permite podermos contemplar só a tua sabedoria, os teus olhos e o teu doce e barroco sorriso. Que o sabor de tua casa seja o do pão dos anjos. Sejam os caminhos planos, mesmo no subir da Serra. Mãe, como fizemos em teu santuário, visita a nossa casa. Amém.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator, peregrino e revisor de textos
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com)
Marcadores:
Cotidiano,
crônica,
Espiritualidade
sexta-feira, 16 de outubro de 2009
Querem esterilizar a história
Alessandro Faleiro Marques*
Em vários contextos e por motivações diferentes, está havendo uma campanha contra os crucifixos. Algumas autoridades dizem que o Estado é laico (conceito quase sempre confundido com "ateu") e, nas dependências de suas instituições, não deve haver símbolos religiosos. Os incrédulos já procuram outro “enfeite”, e até os religiosos andam trocando o crucifixo no pescoço por um potente pen drive, talvez mais útil para eles nestes tempos pós-modernos.
Dias atrás, em um curso (muito proveitoso, diga-se), ouvi de um religioso que, na nova configuração dos templos católicos, tende-se a um destaque aos ícones do Cristo ressuscitado, substituindo as cruzes colocadas segundo as atuais normas litúrgicas. O foco em Jesus vitorioso sobre a morte é justíssimo entre os cristãos, afinal é o evento mais célebre dessa fé. Preocupa-me, porém, outro ponto da pendenga.
A palavra “sacrifício” tem origem no latim “sacrificium” (“sacer”: sagrado; “facere”: fazer), ou seja, fazer sagrada alguma coisa. O paralelo com o pensamento pós-moderno foi inevitável. Neste início de milênio, o individualismo, o prazer instantâneo, a pressa irracional e o excesso de informações fragmentadas nos sufocam e, ao mesmo tempo, envolvem-nos. De repente, estamos nós a propagar valores questionáveis. Quando nos damos conta, já somos parte ativa do "sistemão". Virou coisa do passado esforçar-se pacientemente para realizar um sonho, dar um passo de cada vez.
Se os seguidores de Cristo comemoram a Páscoa, a ressurreição do Ungido, é porque, antes, houve a morte dele. A cruz era, no Império Romano, um instrumento de terror usado para executar pessoas extremamente perigosas para aquele sistema; e Jesus era uma delas. Os primeiros cristãos a rejeitavam como símbolo, pois conheciam de perto o que ela representava. Era sinal de medo e vergonha. Só mais tarde, talvez no século III, a cruz ganhou uma conotação religiosa, celebrando a passagem de Jesus por ela para tornar sagrado o seu projeto.
A atitude de ignorar a cruz hoje pode reforçar algumas injustiças. Se vale somente o Jesus ressuscitado, já pronto, nesta nova concepção, doentes, encarcerados, miseráveis e outros excluídos podem ser esquecidos inclusive pelos cristãos mais distraídos. Será um incremento à “teologia da prosperidade” (outro reflexo do atual hedonismo), segundo a qual só os que possuem são os abençoados.
Ignorar os marginalizados, certamente representados naquele crucificado, é dar outro golpe no Deus que “sacia de bens os famintos e despede sem nada os ricos” (Lc 1,53). E mais: a sociedade do descartável agradece; agora tem outra boa ideologia para justificar-se. Enfermos, idosos, crianças, desempregados, analfabetos serão aterrados, pois não produzem e nem compram, são peças quebradas, inúteis nas engrenagens insaciáveis do “mercado”, feito de carne e osso.
Mesmo quem não professa o cristianismo ou qualquer outra fé deve refletir sobre essa onda de jogar para debaixo do tapete o sangue, o pó, a tortura, o sofrimento divino e humano ao mesmo tempo. Isso pode refletir-se em valores que transcendem escolhas espirituais e afetar a vida de todos. Nós também precisamos do Deus imundo e ensanguentado.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
Em vários contextos e por motivações diferentes, está havendo uma campanha contra os crucifixos. Algumas autoridades dizem que o Estado é laico (conceito quase sempre confundido com "ateu") e, nas dependências de suas instituições, não deve haver símbolos religiosos. Os incrédulos já procuram outro “enfeite”, e até os religiosos andam trocando o crucifixo no pescoço por um potente pen drive, talvez mais útil para eles nestes tempos pós-modernos.
Dias atrás, em um curso (muito proveitoso, diga-se), ouvi de um religioso que, na nova configuração dos templos católicos, tende-se a um destaque aos ícones do Cristo ressuscitado, substituindo as cruzes colocadas segundo as atuais normas litúrgicas. O foco em Jesus vitorioso sobre a morte é justíssimo entre os cristãos, afinal é o evento mais célebre dessa fé. Preocupa-me, porém, outro ponto da pendenga.
A palavra “sacrifício” tem origem no latim “sacrificium” (“sacer”: sagrado; “facere”: fazer), ou seja, fazer sagrada alguma coisa. O paralelo com o pensamento pós-moderno foi inevitável. Neste início de milênio, o individualismo, o prazer instantâneo, a pressa irracional e o excesso de informações fragmentadas nos sufocam e, ao mesmo tempo, envolvem-nos. De repente, estamos nós a propagar valores questionáveis. Quando nos damos conta, já somos parte ativa do "sistemão". Virou coisa do passado esforçar-se pacientemente para realizar um sonho, dar um passo de cada vez.
Se os seguidores de Cristo comemoram a Páscoa, a ressurreição do Ungido, é porque, antes, houve a morte dele. A cruz era, no Império Romano, um instrumento de terror usado para executar pessoas extremamente perigosas para aquele sistema; e Jesus era uma delas. Os primeiros cristãos a rejeitavam como símbolo, pois conheciam de perto o que ela representava. Era sinal de medo e vergonha. Só mais tarde, talvez no século III, a cruz ganhou uma conotação religiosa, celebrando a passagem de Jesus por ela para tornar sagrado o seu projeto.
A atitude de ignorar a cruz hoje pode reforçar algumas injustiças. Se vale somente o Jesus ressuscitado, já pronto, nesta nova concepção, doentes, encarcerados, miseráveis e outros excluídos podem ser esquecidos inclusive pelos cristãos mais distraídos. Será um incremento à “teologia da prosperidade” (outro reflexo do atual hedonismo), segundo a qual só os que possuem são os abençoados.
Ignorar os marginalizados, certamente representados naquele crucificado, é dar outro golpe no Deus que “sacia de bens os famintos e despede sem nada os ricos” (Lc 1,53). E mais: a sociedade do descartável agradece; agora tem outra boa ideologia para justificar-se. Enfermos, idosos, crianças, desempregados, analfabetos serão aterrados, pois não produzem e nem compram, são peças quebradas, inúteis nas engrenagens insaciáveis do “mercado”, feito de carne e osso.
Mesmo quem não professa o cristianismo ou qualquer outra fé deve refletir sobre essa onda de jogar para debaixo do tapete o sangue, o pó, a tortura, o sofrimento divino e humano ao mesmo tempo. Isso pode refletir-se em valores que transcendem escolhas espirituais e afetar a vida de todos. Nós também precisamos do Deus imundo e ensanguentado.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
Marcadores:
Cotidiano,
crônica,
Espiritualidade
quinta-feira, 1 de outubro de 2009
O palavrão do livro didático
Alessandro Faleiro Marques*
Os adeptos dos orgasmos pedagógicos que me desculpem, mas uma notícia na tevê me deixou com um nó nas entranhas. Um livro didático distribuído pelo governo de Minas Gerais para alunos do ensino fundamental trazia um texto cheio de palavrões, termos chulos, tabuísmos e tudo mais que o eufemismo tenta aliviar. A justificativa: os personagens precisariam disso para poder criticar uma situação excludente. Confesso: tive de rever a notícia para acreditar. E o pior, a polêmica se deu também em escolas públicas de outros estados, em obras aprovadas pelas respectivas secretarias de Educação.
O mais bizarro disso, deixando-me boquiaberto, é alguns educadores aprovarem a ideia. Felizmente foi a minoria. Nenhum governante pediu minha palavra, apenas cobrou de mim os impostos para financiar essa aberração, mas ressalto: é um absurdo! Sou um cafona assumido em algumas questões educacionais. Sou dos bons tempos da escola ensinando coisas boas. Os educadores andavam bem arrumados (mesmo ganhando mal), emanavam sabedoria e se davam respeito. Aprendi muita coisa com o exemplo deles. Sou testemunha de que o ensino não verbal também é importante num ambiente nobre como eram as escolas públicas onde estudei.
Para mim, não serve a desculpa de ser a vida fora da escola cheia de mazelas e de fatos pouco publicáveis. Disseram que os alunos devem aprender da realidade. Outro disparate! Se fosse assim, por que estudar sobre a neve (clássico exemplo) ou sobre o Saara? Não pertencem ao nosso cotidiano. Não me lembro de ter trocado tiros com meus colegas para aprender sobre as guerras. Senhores educadores, voltemos às origens (as boas, é claro). Esqueçamos um pouco o governo e algumas teorias só teóricas. Sejamos verdadeiramente mestres por dentro e por fora.
Quanto ao livro esquisito, gostaria de solidarizar-me com pais, educadores e alunos (sim, eles também) que desaprovaram a asneira. Ânimo! Vamos continuar fazendo tudo para ver se essa geração de boné na cabeça e bermudão tenha o mínimo de valores. Não deixemos de lado a escola, apoiemos as boas iniciativas dela e continuemos a cobrar dos nossos governantes mais investimentos para a nossa juventude.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
Os adeptos dos orgasmos pedagógicos que me desculpem, mas uma notícia na tevê me deixou com um nó nas entranhas. Um livro didático distribuído pelo governo de Minas Gerais para alunos do ensino fundamental trazia um texto cheio de palavrões, termos chulos, tabuísmos e tudo mais que o eufemismo tenta aliviar. A justificativa: os personagens precisariam disso para poder criticar uma situação excludente. Confesso: tive de rever a notícia para acreditar. E o pior, a polêmica se deu também em escolas públicas de outros estados, em obras aprovadas pelas respectivas secretarias de Educação.
O mais bizarro disso, deixando-me boquiaberto, é alguns educadores aprovarem a ideia. Felizmente foi a minoria. Nenhum governante pediu minha palavra, apenas cobrou de mim os impostos para financiar essa aberração, mas ressalto: é um absurdo! Sou um cafona assumido em algumas questões educacionais. Sou dos bons tempos da escola ensinando coisas boas. Os educadores andavam bem arrumados (mesmo ganhando mal), emanavam sabedoria e se davam respeito. Aprendi muita coisa com o exemplo deles. Sou testemunha de que o ensino não verbal também é importante num ambiente nobre como eram as escolas públicas onde estudei.
Para mim, não serve a desculpa de ser a vida fora da escola cheia de mazelas e de fatos pouco publicáveis. Disseram que os alunos devem aprender da realidade. Outro disparate! Se fosse assim, por que estudar sobre a neve (clássico exemplo) ou sobre o Saara? Não pertencem ao nosso cotidiano. Não me lembro de ter trocado tiros com meus colegas para aprender sobre as guerras. Senhores educadores, voltemos às origens (as boas, é claro). Esqueçamos um pouco o governo e algumas teorias só teóricas. Sejamos verdadeiramente mestres por dentro e por fora.
Quanto ao livro esquisito, gostaria de solidarizar-me com pais, educadores e alunos (sim, eles também) que desaprovaram a asneira. Ânimo! Vamos continuar fazendo tudo para ver se essa geração de boné na cabeça e bermudão tenha o mínimo de valores. Não deixemos de lado a escola, apoiemos as boas iniciativas dela e continuemos a cobrar dos nossos governantes mais investimentos para a nossa juventude.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
quinta-feira, 17 de setembro de 2009
O Deus de “A Cabana”
Alessandro Faleiro Marques*
Como a literatura brasileira, com exceções, anda vivendo basicamente de autoajuda e relançamentos, “A Cabana”, mais uma obra internacional, movimenta as livrarias do Brasil. Depois do sucesso de “O Código da Vinci” e “Anjos e Demônios”, a religião volta a atiçar a curiosidade do leitor. “A Cabana”, do escritor canadense William P. Young (Editora Sextante, 2008. 240 p.), retoma a velha e bem-sucedida fórmula de colocar frente a frente Deus e o ser humano.
Depois do assassinato da filha, Mackenzie Allen Phillips (ou Mack, como é chamado no livro), típico americano de classe média, recebe um bilhete assinado por “Papai”. Não resistindo ao convite, o protagonista (humano) decide passar um final de semana no lugar indicado, a floresta onde teria sido morta a caçula. Numa cabana abandonada, que ganha um novo cenário, digno de uma aparição divina, ele tem um diálogo impressionante com as três pessoas da Santíssima Trindade: “Papai”, Jesus e Sarayu. Como em qualquer boa conversa com Deus, Mack passa por um envolvente processo de questionamento e purificação.
Quem imagina o Senhor de barba longa, camisola branca e com cara de bravo vai decepcionar-se. O livro resgata o Abba, o Papai de Jesus, algo que, há dois milênios, o Salvador nos ensinou a fazer, apesar de muitos ainda resistirem à ideia.
Em “A cabana”, “Papai” é uma senhora negra, bonachona, uma mãe boa de conselhos e de cozinha. Nada que os cristãos de verdade não deveriam já saber. O Papa João Paulo I, mesmo governando a Igreja por 34 dias, em 1978, deixou como legado espiritual a ideia de Deus Pai e Mãe ao mesmo tempo. Obviamente, Mack, como a maioria dos fiéis, custa a acostumar-se com aquela figura. Ponto para o autor. Sarayu, a moça oriental de atitude leve, é uma boa representação do Espírito Santo. Ela é jardineira, encantada, livre. Onde ela está, sempre há perfume, ar. A palavra “espírito” significa brisa, sopro, vento. “O vento sopra onde quer”, já dizia São João (Jo 3,8), e Sarayu é assim. Em boa parte do enredo, é uma figura estranha para o convidado. Com feições orientais, Jesus é um marceneiro, companheiro físico e espiritual de Mack. Em relação ao Redentor, parece haver menos estranhamento da parte do visitante. Pudera: Jesus é “Deus Conosco”, o Verbo encarnado. No entendimento de Mack, Cristo conhece bem as limitações humanas. Nada contrário à fé de um cristão atento.
Em livros como “A Cabana”, às vezes, o problema são os leitores. Da parte do autor, ele fez o que pôde para contar uma boa história. Conteúdos acessíveis e bons, cenários e personagens interessantes, desfecho surpreendente. O engraçado nisso é os leitores pensarem ser a obra um novo livro sagrado. No próprio volume, há uma campanha para divulgá-lo (é claro!). Eu mesmo o fiz (e estou fazendo agora), mas no aspecto literário, não teológico. Espiritueiros de última hora acham que descobriram a roda, como aconteceu ao lerem clássicos como a série “Operação Cavalo de Troia”, de J.J. Benítez, sucesso até hoje. Pensam saber de tudo dos bastidores vaticanos com “Anjos e Demônios” e ser “O Código da Vinci” um guia turístico-religioso. O mercado literário e cinematográfico, principalmente o estrangeiro, agradece.
Achar que Deus vai baixar do Céu e vir à Terra conversar com os homens é recurso transcendental fácil. Para todos, uma boa notícia pelos olhos da fé: a Trindade já está entre nós. A experiência de Deus acontece todos os dias, nos lugares e formas mais interessantes. A unidade das Três Pessoas se manifesta no próximo, sobretudo nos pobres “em” (não “de”) espírito, nos doentes, nos encarcerados, nos excluídos. A obra divina se mostra na beleza da arte, da natureza. “Mamãe” se deixa ouvir no silêncio. Não adianta tocar-se com a mensagem de Papai, de Jesus e de Sarayu e deixar de olhar em volta, de valorizar a vida. A criação iniciada por Deus continua sob nossa responsabilidade. Cuidar do outro e deixar-se cuidar é atitude espiritual.
Se alguém quiser ouvir Jesus realmente, pasmem, os evangelhos ainda são a fonte mais segura. Neles, Cristo é mais surpreendente do que em “A Cabana”. “Papai” já foi anunciado assim há dois mil anos. Quanto ao Espírito, a Brisa, deste não posso falar, pois acabou a minha inspiração, deve ter ido soprar em outro ouvido.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
Como a literatura brasileira, com exceções, anda vivendo basicamente de autoajuda e relançamentos, “A Cabana”, mais uma obra internacional, movimenta as livrarias do Brasil. Depois do sucesso de “O Código da Vinci” e “Anjos e Demônios”, a religião volta a atiçar a curiosidade do leitor. “A Cabana”, do escritor canadense William P. Young (Editora Sextante, 2008. 240 p.), retoma a velha e bem-sucedida fórmula de colocar frente a frente Deus e o ser humano.
Depois do assassinato da filha, Mackenzie Allen Phillips (ou Mack, como é chamado no livro), típico americano de classe média, recebe um bilhete assinado por “Papai”. Não resistindo ao convite, o protagonista (humano) decide passar um final de semana no lugar indicado, a floresta onde teria sido morta a caçula. Numa cabana abandonada, que ganha um novo cenário, digno de uma aparição divina, ele tem um diálogo impressionante com as três pessoas da Santíssima Trindade: “Papai”, Jesus e Sarayu. Como em qualquer boa conversa com Deus, Mack passa por um envolvente processo de questionamento e purificação.
Quem imagina o Senhor de barba longa, camisola branca e com cara de bravo vai decepcionar-se. O livro resgata o Abba, o Papai de Jesus, algo que, há dois milênios, o Salvador nos ensinou a fazer, apesar de muitos ainda resistirem à ideia.
Em “A cabana”, “Papai” é uma senhora negra, bonachona, uma mãe boa de conselhos e de cozinha. Nada que os cristãos de verdade não deveriam já saber. O Papa João Paulo I, mesmo governando a Igreja por 34 dias, em 1978, deixou como legado espiritual a ideia de Deus Pai e Mãe ao mesmo tempo. Obviamente, Mack, como a maioria dos fiéis, custa a acostumar-se com aquela figura. Ponto para o autor. Sarayu, a moça oriental de atitude leve, é uma boa representação do Espírito Santo. Ela é jardineira, encantada, livre. Onde ela está, sempre há perfume, ar. A palavra “espírito” significa brisa, sopro, vento. “O vento sopra onde quer”, já dizia São João (Jo 3,8), e Sarayu é assim. Em boa parte do enredo, é uma figura estranha para o convidado. Com feições orientais, Jesus é um marceneiro, companheiro físico e espiritual de Mack. Em relação ao Redentor, parece haver menos estranhamento da parte do visitante. Pudera: Jesus é “Deus Conosco”, o Verbo encarnado. No entendimento de Mack, Cristo conhece bem as limitações humanas. Nada contrário à fé de um cristão atento.
Em livros como “A Cabana”, às vezes, o problema são os leitores. Da parte do autor, ele fez o que pôde para contar uma boa história. Conteúdos acessíveis e bons, cenários e personagens interessantes, desfecho surpreendente. O engraçado nisso é os leitores pensarem ser a obra um novo livro sagrado. No próprio volume, há uma campanha para divulgá-lo (é claro!). Eu mesmo o fiz (e estou fazendo agora), mas no aspecto literário, não teológico. Espiritueiros de última hora acham que descobriram a roda, como aconteceu ao lerem clássicos como a série “Operação Cavalo de Troia”, de J.J. Benítez, sucesso até hoje. Pensam saber de tudo dos bastidores vaticanos com “Anjos e Demônios” e ser “O Código da Vinci” um guia turístico-religioso. O mercado literário e cinematográfico, principalmente o estrangeiro, agradece.
Achar que Deus vai baixar do Céu e vir à Terra conversar com os homens é recurso transcendental fácil. Para todos, uma boa notícia pelos olhos da fé: a Trindade já está entre nós. A experiência de Deus acontece todos os dias, nos lugares e formas mais interessantes. A unidade das Três Pessoas se manifesta no próximo, sobretudo nos pobres “em” (não “de”) espírito, nos doentes, nos encarcerados, nos excluídos. A obra divina se mostra na beleza da arte, da natureza. “Mamãe” se deixa ouvir no silêncio. Não adianta tocar-se com a mensagem de Papai, de Jesus e de Sarayu e deixar de olhar em volta, de valorizar a vida. A criação iniciada por Deus continua sob nossa responsabilidade. Cuidar do outro e deixar-se cuidar é atitude espiritual.
Se alguém quiser ouvir Jesus realmente, pasmem, os evangelhos ainda são a fonte mais segura. Neles, Cristo é mais surpreendente do que em “A Cabana”. “Papai” já foi anunciado assim há dois mil anos. Quanto ao Espírito, a Brisa, deste não posso falar, pois acabou a minha inspiração, deve ter ido soprar em outro ouvido.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
Marcadores:
Cotidiano,
Espiritualidade,
Literatura
quinta-feira, 3 de setembro de 2009
A Guerreira que devolveu a música aos brasileiros
Alessandro Faleiro Marques*
Nestas duas últimas décadas, quem vê cantoras levando multidões a estádios, parques de exposição e casas de espetáculo nem imagina como foi difícil as mulheres conquistarem também o espaço dos palcos. Desde a magnífica Chiquinha Gonzaga e talvez outras que viveram antes dela, enterradas bem fundo pela ignorância histórica, muitas vezes as artistas eram desacreditadas.
Entre as décadas de 1960 e início da de 1980, a história resolveu mudar. Nas ladainhas em latim entoadas pelo coro da matriz de Caetanópolis, em Minas Gerais, ouvia-se a voz da menina Clara Francisca Gonçalves Pinheiro. Com o sobrenome artístico herdado da mãe, passou a ser chamada de Clara Nunes. Depois de muito sucesso no rádio e inspirada por vozes de outras grandes mulheres, como de Carmem Costa, Elizeth Cardoso, Dalva de Oliveira e Ângela Maria, Clara gradualmente se tornou uma espécie de embaixadora da música brasileira para os próprios brasileiros.
A missão da Guerreira veio em uma época particularmente difícil para a nossa música popular. Por motivos nem sempre nobres, nos anos 60 e 70, as canções estrangeiras, sobretudo as estadunidenses, esmagavam muitos talentos nacionais e devassavam os espaços na mídia. Muitos sucessos em português apresentados por artistas do Brasil nada mais eram do que “releituras” das músicas compostas por artistas dos EUA ou da Inglaterra. Por ignorância ou sede de sucesso, muitos tinham pseudônimos em inglês e nessa língua cantavam. Tudo sob a conivência do público, faça-se justiça.
Por outro lado, cheia de alegria, com seus balangandãs, levando o chocalho na canela, e paramentada com o vestido branco da umbanda, Clara Nunes relembrou ao povo: existia samba além carnaval e forró além São João. Com Sivuca, ela contou ao Brasil como era a Feira de Mangaio, tudo ao som de uma contagiante e puríssima sanfona nordestina. Na voz dela, o Brasil ouvia em samba e coral afro um dos mais célebres lamentos nacionais, o Canto das Três Raças. Quem melhor do que Clara poderia interpretar a comparação entre o desfile da Portela e uma procissão?
Alguém agora pode estar lembrando-se agora do papel de Elis Regina. A missão de Elis foi a de refinar a música, lançando novos nomes e um jeito caloroso de interpretar. Por isso, ainda hoje, ela atrai mais o público “cult”. Não é muito o caso de Clara Nunes. Esta também tinha uma interpretação maravilhosa, no entanto fez mais um trabalho de resgate de algo que existia, mas andava esquecido pelo povo. Por providência divina, Clara e Elis viveram na mesma época e partiram cedo, deixando, cada uma a seu modo, uma importantíssima contribuição para a cultura brasileira.
A própria vida de Clara Nunes é a principal mensagem que ela nos dá. De menina do interior a operária e grande cantora popular, a primeira a vender mais de cem mil cópias, quebrando um tabu, a “tal mineira” foi uma legítima brasileira. A moça adotada pelo povo ainda nos quer chamar a atenção para as vozes divinas de homens e mulheres que a mídia insiste em silenciar. Ela nos pede um olhar mais carinhoso para as nossas raízes preciosas nestes tempos de muito barulho, falta de melodia e de criatividade. Quem melhor poderia ser chamada de Guerreira?
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
Nestas duas últimas décadas, quem vê cantoras levando multidões a estádios, parques de exposição e casas de espetáculo nem imagina como foi difícil as mulheres conquistarem também o espaço dos palcos. Desde a magnífica Chiquinha Gonzaga e talvez outras que viveram antes dela, enterradas bem fundo pela ignorância histórica, muitas vezes as artistas eram desacreditadas.
Entre as décadas de 1960 e início da de 1980, a história resolveu mudar. Nas ladainhas em latim entoadas pelo coro da matriz de Caetanópolis, em Minas Gerais, ouvia-se a voz da menina Clara Francisca Gonçalves Pinheiro. Com o sobrenome artístico herdado da mãe, passou a ser chamada de Clara Nunes. Depois de muito sucesso no rádio e inspirada por vozes de outras grandes mulheres, como de Carmem Costa, Elizeth Cardoso, Dalva de Oliveira e Ângela Maria, Clara gradualmente se tornou uma espécie de embaixadora da música brasileira para os próprios brasileiros.
A missão da Guerreira veio em uma época particularmente difícil para a nossa música popular. Por motivos nem sempre nobres, nos anos 60 e 70, as canções estrangeiras, sobretudo as estadunidenses, esmagavam muitos talentos nacionais e devassavam os espaços na mídia. Muitos sucessos em português apresentados por artistas do Brasil nada mais eram do que “releituras” das músicas compostas por artistas dos EUA ou da Inglaterra. Por ignorância ou sede de sucesso, muitos tinham pseudônimos em inglês e nessa língua cantavam. Tudo sob a conivência do público, faça-se justiça.
Por outro lado, cheia de alegria, com seus balangandãs, levando o chocalho na canela, e paramentada com o vestido branco da umbanda, Clara Nunes relembrou ao povo: existia samba além carnaval e forró além São João. Com Sivuca, ela contou ao Brasil como era a Feira de Mangaio, tudo ao som de uma contagiante e puríssima sanfona nordestina. Na voz dela, o Brasil ouvia em samba e coral afro um dos mais célebres lamentos nacionais, o Canto das Três Raças. Quem melhor do que Clara poderia interpretar a comparação entre o desfile da Portela e uma procissão?
Alguém agora pode estar lembrando-se agora do papel de Elis Regina. A missão de Elis foi a de refinar a música, lançando novos nomes e um jeito caloroso de interpretar. Por isso, ainda hoje, ela atrai mais o público “cult”. Não é muito o caso de Clara Nunes. Esta também tinha uma interpretação maravilhosa, no entanto fez mais um trabalho de resgate de algo que existia, mas andava esquecido pelo povo. Por providência divina, Clara e Elis viveram na mesma época e partiram cedo, deixando, cada uma a seu modo, uma importantíssima contribuição para a cultura brasileira.
A própria vida de Clara Nunes é a principal mensagem que ela nos dá. De menina do interior a operária e grande cantora popular, a primeira a vender mais de cem mil cópias, quebrando um tabu, a “tal mineira” foi uma legítima brasileira. A moça adotada pelo povo ainda nos quer chamar a atenção para as vozes divinas de homens e mulheres que a mídia insiste em silenciar. Ela nos pede um olhar mais carinhoso para as nossas raízes preciosas nestes tempos de muito barulho, falta de melodia e de criatividade. Quem melhor poderia ser chamada de Guerreira?
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
quinta-feira, 13 de agosto de 2009
O caso do drible
Alessandro Faleiro Marques*
Ele era o típico moleque bom de bola. Nunca foi dono de uma, mas sabia como poucos acariciar a redonda. Seus passes e passos eram disputados por times gloriosos da várzea. Encarava tudo. Jogo em campo escavado em barranco de terra vermelha, área de risco de tudo quanto havia. Chuva, sol, manhã de domingo encefaleico e até noite cansada, nada impedia aquele negro liso de mostrar publicamente o romance quente com a pelota.
O mês foi de alegria. Depois de anos caroneando, o craque conseguiu emprego. Não compraria uma bola, mas o telhado para pôr no casebre onde se escondia precário com a mãe e as irmãs. Tinha sorriso redondo e conversa fácil. Entrosou sem dificuldades com os primeiros colegas de trabalho. Em uma semana, já estava na dianteira do ataque na disforme seleção da firma.
Ganhou o direito de participar do primeiro amistoso contra os pernudos das forças armadas. Gente elegante em cedo azul de sábado. O moço sabia entoar o virundum. Do time era só ele. Exigência da mãe. O gerente sério e o supervisor letrado tropeçaram nos invertidos verbais da melodia nacional. Menos o rapaz. Ele cantou e recantou. Nem bateu palmas no final, como manda a etiqueta meio esquecida.
Bola rolou no compromisso interessante. De primeira, o arremedo de Pelé deixou dois no chão. Sargento e soldado raso. Chutou, e o tenente goleiro nem teve trabalho exceto o de riscar no olho o rumo do objeto. Carimbo no alumínio atravessado. Susto só. Mais uns minutos poucos, e lá veio ele. Fez que ia, fingiu que pisava. Soldado, o mesmo de antes, e cabo no piso. Só correu para o centro da grande circunferência de cal. Mais um gol na carreira entranhada. Nem ligou para o solo de festa. Estava acostumado. De novo, a donzela achou o príncipe. Corrida solitária, grama no alto. Falta! O próprio time fez de escudo o doce negro. “É só deixar pra ele”, berrou o porteiro. Todos certos. O porteiro e o craque. E o tenente buscava outra no fundo do caixote de barbante. Nem dez minutos fazia.
Depois de outras gingadas humilhações e guerreiros no relvado, o capitão em patente e honra do time aéreo não aguentou. “Ô Cabo, soldado, vocês tão dormindo? É pr’abater! É pra jogar em pé!” “Positivo, capitão!” Logo mais uma vítima: o soldado da lateral. Entortado pelo corpo de mola do negro educado. Mais bronca do capitão. Ameaça de ficar depois do expediente. Mais dribles, mais xingos. Coisa impublicável. Mais reboles de canela. Oficiais na horizontal. Desta vez, ameaça de cela. Nem era fim do primeiro tempo, e o negócio andava feio. Sol quente e vista suada. Pobre tenente, já praticamente rebaixado de posto assistindo à bola entrar. “Esse moço é o cão, senhor!” “O senhor é uma galinha, senhor”, contralançou o líder bravo.
Aquele falatório de enxofre incomodou o moço. No campo de terra, quando não tem briga, a turma joga, e tudo acaba numa cumbuca de feijão gordo no bar da praça. Costumam nem precisar do tal de “fair play”, coisa que aparece por lá, junto com novas camisas, só em época de eleição. Seis a zero. Quatro do centroavante e um do auxiliar de estoque. O sexto foi contra. O susto foi o autor deste, quando o cadete viu o negro brilhante chegar, e tocou para a meta errada. Fim do primeiro tempo. Um verdadeiro espetáculo do herói de ébano. Quanto ao capitão, teve de criar novos palavrões para ver se o time fardado pegava no tranco.
Um pedido assustou os paisanos, já assombrados com a raridade do vestiário profissional. A estrela do time pediu para ser zagueiro. Com os punhos descansando no abdômen cevado, todos concordaram. Água gelada, bexiga vazia e volta ao campo.
Segunda etapa do junta-junta esportivo. “Cabo, aquele negão deve estar querendo aprontar alguma”, desconfiou o sargento rodado. Acertou. O plano do novo defensor tinha motivo nobre. Uma aula de humildade não pra ele, já doutorado, mas para o comandante do outro time. O capitão tinha sido poupado dos riscados gloriosos do primeiro tempo. Pensava ser bom. Escalou-se para o ataque e ficou livre do confronto hormonal com o dianteiro cor de chocolate. Este mostrava um sorriso mais largo que o da primeira etapa. O jovem operário defendia tudo. A pepita parecia sair dos pés dos atacantes e correr para os dele, qual ímã. A meta do zagueiro nobre deixava de ser o gol, mas outra, e atrevida.
Com a mudança de posição do artilheiro, o time perdendo respirava, pois o placar jazia inalterado, liberando mais militares para a ofensiva. Numa dessas, o capitão driblou o Guengué motorista, deitou com um vai-que-não-vai o Chucruta faxineiro, chapelou o Tonho Alcântra vigia e deixou comendo grama o encarregado Pedreira. Parou a festa justamente no último defensor. Como era de se esperar, a bola pulou do pé do oficial e colou nos dois do zagueiro de luxo. Em vez de mandá-la para frente, naqueles fragmentos de segundo, resolveu tornar-se um mortal pecador que cultiva uma clássica vingança. Pisou na gordinha, acariciou-a com a sola da chuteira gasta, e, num átimo, jogou a redonda por entre as pernas da vítima. Desequilibrado, o desaforado ainda tomou um lençol, dois dribles de letra e um rabo-de-vaca. Veio o golpe de misericórdia: mais uma passada por entre as canelas. Comandante prostrado. Despediu-se do couro redondo e o mandou pra frente.
Murmúrios e risos escondidos nos dois times. No fundo, todos agradaram da aula, repetida ainda uma meia dúzia de vezes naqueles 45 minutos. O capitão pendurou as chuteiras ali mesmo. Na segunda-feira, o time armado não falou mais no assunto. O artilheiro também não.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Às vezes, inventa verdades.
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
Marcadores:
Cotidiano,
crônica,
Literatura
sexta-feira, 10 de julho de 2009
Impressões da visita à Rainha Morena (3ª parte)
Alessandro Faleiro Marques*
“Infeliz quem não te conhece, padece em vão, sem consolo.” Esse trecho de um antigo hino à Padroeira do Brasil era um dos cantados pelos romeiros quando chegavam a Aparecida, depois de uma viagem sob voto de silêncio orante. Iam para prestar contas a Deus e ainda voltar no lucro, com o bolso espiritual pleno de paz. Assim ficamos ao visitar aquele lugar, excluído o jejum de palavras, por fraqueza nossa. Mais do que conhecer a dona da casa, o principal sentimento foi de sentir-nos reconhecidos por ela.
Na parte anterior destas impressões, o nosso espanto renovador diante da maior coletânea mística que já vimos: a Sala da Promessas da Basílica Nacional. Fotos, vestidos, armas, tudo quanto é objeto contando um pouco não só de fé. É tratado vivo de Antropologia, Teologia, Psicologia, História e outros saberes que, como os peregrinos, permitirem-se a tal experiência.
Faltaram-nos outros ex-votos afamados. Como as correntes quebradas do escravo Zacarias. Alforriado pela própria Mãe de Deus, feita negra para o Brasil. Quilombola-mor, guerreira plácida de uma aldeia multicor. Por ela tem cada filho contado e nomeado, tal qual em casa pequena. Ali coube mais um. Como ela, quem entende melhor de liberdade?
Na Sala das Promessas, não vimos também a pedra carimbada pela ferradura da montaria do incrédulo fazendeiro. Cabeça quente. Tentou entrar na casa da Mãe sem pedir licença. Malcriado corrigido sem palmadas, mas com susto dos bons. Ex-infeliz. Água suja mudada em vinho nobre. Braveza amansada. História mais rica. Em sabedoria oriental, a anfitriã hoje pensa melhor: “Imagine se prego no liso todos os que entrarem no santuário com alma pesada... quantas marcas de sandálias, sapatos, coturnos, pneus... Haja pedra e haja museu! Haja blog”. O ralhar ficou para aquele incrédulo. Afinal, há digno de entrar em casa feita santa? De que vale remédio para são?
Essas e outras relíquias as encontramos na torre do Santuário. Depois do assombro com as formas do templo, da serra e do Vale do Paraíba apontadas do mirante, descemos ao museu.
Lá estavam os testemunhos dos favores divinos mais conhecidos dessa parte do continente. Também as rosas de ouro dadas pelos papas. Honra nobre à hebreia humilde. Coroas, fotos e recordações. Restos do incidente: pequena imagem de barro virou pó. Ícone atacado por um jovem vítima dos próprios neurônios e de quem os manipulou. Mais uma terminada bem.
Tudo foi experiência. Mas a sede espiritual do Brasil também tem lá suas mazelas. No último artigo desta série, as nossas desventuras e cutucadas. Queixas contra os filhos. Só. Nós, pobres e pecadores romeiros, nossos pés passarão soltos no granito da entrada, felizmente.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator, peregrino e revisor de textos
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com)
“Infeliz quem não te conhece, padece em vão, sem consolo.” Esse trecho de um antigo hino à Padroeira do Brasil era um dos cantados pelos romeiros quando chegavam a Aparecida, depois de uma viagem sob voto de silêncio orante. Iam para prestar contas a Deus e ainda voltar no lucro, com o bolso espiritual pleno de paz. Assim ficamos ao visitar aquele lugar, excluído o jejum de palavras, por fraqueza nossa. Mais do que conhecer a dona da casa, o principal sentimento foi de sentir-nos reconhecidos por ela.
Na parte anterior destas impressões, o nosso espanto renovador diante da maior coletânea mística que já vimos: a Sala da Promessas da Basílica Nacional. Fotos, vestidos, armas, tudo quanto é objeto contando um pouco não só de fé. É tratado vivo de Antropologia, Teologia, Psicologia, História e outros saberes que, como os peregrinos, permitirem-se a tal experiência.
Faltaram-nos outros ex-votos afamados. Como as correntes quebradas do escravo Zacarias. Alforriado pela própria Mãe de Deus, feita negra para o Brasil. Quilombola-mor, guerreira plácida de uma aldeia multicor. Por ela tem cada filho contado e nomeado, tal qual em casa pequena. Ali coube mais um. Como ela, quem entende melhor de liberdade?
Na Sala das Promessas, não vimos também a pedra carimbada pela ferradura da montaria do incrédulo fazendeiro. Cabeça quente. Tentou entrar na casa da Mãe sem pedir licença. Malcriado corrigido sem palmadas, mas com susto dos bons. Ex-infeliz. Água suja mudada em vinho nobre. Braveza amansada. História mais rica. Em sabedoria oriental, a anfitriã hoje pensa melhor: “Imagine se prego no liso todos os que entrarem no santuário com alma pesada... quantas marcas de sandálias, sapatos, coturnos, pneus... Haja pedra e haja museu! Haja blog”. O ralhar ficou para aquele incrédulo. Afinal, há digno de entrar em casa feita santa? De que vale remédio para são?
Essas e outras relíquias as encontramos na torre do Santuário. Depois do assombro com as formas do templo, da serra e do Vale do Paraíba apontadas do mirante, descemos ao museu.
Lá estavam os testemunhos dos favores divinos mais conhecidos dessa parte do continente. Também as rosas de ouro dadas pelos papas. Honra nobre à hebreia humilde. Coroas, fotos e recordações. Restos do incidente: pequena imagem de barro virou pó. Ícone atacado por um jovem vítima dos próprios neurônios e de quem os manipulou. Mais uma terminada bem.
Tudo foi experiência. Mas a sede espiritual do Brasil também tem lá suas mazelas. No último artigo desta série, as nossas desventuras e cutucadas. Queixas contra os filhos. Só. Nós, pobres e pecadores romeiros, nossos pés passarão soltos no granito da entrada, felizmente.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator, peregrino e revisor de textos
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com)
Marcadores:
Cotidiano,
crônica,
Espiritualidade
quarta-feira, 17 de junho de 2009
Impressões da visita à Rainha Morena (2ª parte)
Alessandro Faleiro Marques*
No artigo anterior, o primeiro contato com a monumental Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba. Agora, depois da avidez do olhar e das pernas, um pouco de detença.
As horas por lá foram insuficientes para vermos tudo, mas o que sentimos já nos fez participar do capítulo começado no segundo semestre de 1717. A história tem lá suas vaidades. Quando nos assustamos, nela estamos. Criatura esperta. Nós nos damos conta, e já nos pegaram as linhas dos registros. Não há como escapar.
Para as estatísticas, éramos um nada. Dois pontos. Para a "dona da casa", um filho e uma filha juntos com mais dezenas de milhares de irmãos. Coisas de mãe de Onipotente.
Aparecida parece zombar de tamanhos. A cidade e a imagem da padroeira, minúsculas; a fé do povo, imensurável. Diante desta, o templo gigante e a passarela curva nem se comparam. Do chegado da roça ou romeiro da metrópole, de quem já viu tudo ou ainda verá, grande parte do Brasil parece querer caber naquelas colinas. Provar isso é fácil.
Se o País fosse um livro, certamente o sumário dele estaria no subsolo do santuário. Outrora nas paredes da antiga igreja, os reorganizados ex-votos são testemunhas silenciosas de choro e alegria. Sofrimento tornado júbilo. Lágrima enxuta tornada crença nova. A Sala das Promessas, como é chamada, tem rastro de doutor e de peão deste e até de outros povos.
Do teto, milhões de rostos parados em fotografias parecem querer gritar aos que chegam: há o além-palpável. Esperança existe, e é o terminar bem de tudo.
Ressurreição é pra vida toda. Olhando para a parede, vê-se a imagem da padroeira vigiando em sorriso. Mais uns passos, as panelas do avesso, os diplomas, as ferramentas, os capacetes, as fardas e as medalhas. Depois da pilastra, os quadros, os vestidos de noiva, as bandeiras. Ao canto, a réplica do barco dos três pescadores que, no século XVIII, atualizaram o milagre dos peixes do tempo de Cristo. Mais um olhar para cima, e as peças de cera. Braços, pernas, rins, cabeças formando o corpo das dores curadas. No armário, armas. Embaixo, símbolos enfileirados de atletas. Ali, humildes, membros do mesmo time.
O murmúrio dos visitantes abafa o antigo sofrimento emanado dos vícios empilhados em outra prateleira. Coisa dura de ver. O que na tevê é sorriso de comercial, na sala dos milagres, é sobra de amargura. O riso de verdade parece existir agora, mas distante das garrafas, maços e cartas.
Naquele subsolo, tivemos a certeza: erramos acompanhados neste mundo. Nem museu, nem pura exposição ou ponto turístico. De tudo era naquela ponta de livro vivo. Sentimos falta das correntes quebradas, da pedra carimbada pela ferradura. Mas nós as encontramos depois. Assunto para a próxima parte deste artigo.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator, peregrino e revisor de textos
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com)
Marcadores:
Cotidiano,
crônica,
Espiritualidade
quinta-feira, 4 de junho de 2009
Impressões da visita à Rainha Morena (1ª parte)
A verdade: o coração não batia do mesmo jeito. Enquanto avançávamos a estrada paralela à Via Dutra, vencíamos com mais voracidade cada metro engolido pelo carro preto. Nosso destino pareceu estar mais próximo. Não pela indicação das placas, mas pelos homens seguindo no canto da via. Passos rezados, cajado e mochila. A fé deles indicava que estávamos no rumo.
Depois da sequência de curvas, cada pulsação dentro da gente abafava teorias, críticas, ideias preconcebidas. Ao contornarmos a última curva, eis que surge o topo da impressionante torre. Admiramos em voz alta. Outra curva. Ela sumiu. Mais uma contravolta, e lá estava. Gigantesca. Vermelhamente monumental. Éramos engolidos pelo pátio posterior da segunda maior igreja do mundo. Subimos a rampa e nem nos importamos com o preço do estacionamento. Estávamos boquiabertos. Nem sabemos se o troco foi o certo. Queríamos conferir mesmo era se os nossos olhos estavam vendo o Santuário Nacional. Colossal construção a envolver a minúscula imagem aparecida do barrento eme do rio Paraíba.
Tivemos de respirar: emoção e viagem sinuosa desde a ponta da Serra da Mantiqueira, onde ficava Campos do Jordão, terra cheia de europeísmo. Na planura do Vale, juntava-se parte do verdadeiro Brasil. Gente de tudo quanto é cor, sotaque e condição. A nossa reserva de admiração era tanta que começamos o passeio já no grande pátio, em torno do círculo de túmulos episcopais dispostos na ponta de um dos braços abertos em curva.
Andamos rápido. Olhos em tudo. “É logo ali”, disse o guarda. Nem nos lembramos se o agradecemos. Que aqui o seja feito. Subimos a rampa ao som do canto coletivo. Olho fixo na parede, à esquerda. Ao ritmo de nossos passos, ela se nos mostrou naquele fim de manhã do sábado. Lá estava a pequena estátua no nicho nobremente metálico. Em milésimos de segundo, os joelhos dobrados jogavam por terra teologia e tudo quanto é racionalidade. Que se danem os livros! Lá estava a representação da Virgem. Morena da cor de muitos de nós. Assim a Mãe adotou o Brasil.
No silêncio envolvido em vidro blindado, o ícone coroado parecia aumentar o sorriso do barro cozido. Quantas fotos, quanta gente naquele maio. Não sabemos dizer (aliás, pouca coisa se explica em Aparecida), mas tivemos a mesma impressão: a mais brasileira das hebreias estava nos esperando. Parecia saber nosso nome. Nome, sobrenome e vida de cada um que se organizava por entre as barras de corrimão. Revelação que fizemos mutuamente durante o destemperado, deselegante e caro almoço da cidade velha.
Tudo majestoso. Por onde os olhos se voltavam, interjeitavam-se a correição de peregrinos, as pinturas, os corredores, a cúpula, as capelas. Mas a pequena imagem, coroada, mas humilde, representava a maior das mulheres.
No palácio e arredores, não faltam particularidades. Mas isso é assunto para a segunda parte deste artigo.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator, peregrino e revisor de textos
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com)
Marcadores:
Cotidiano,
crônica,
Espiritualidade
segunda-feira, 25 de maio de 2009
Sentidos da rua torta
Alessandro Faleiro Marques*
Pelas minhas contas, passo por aquela via sinuosa há mais de uma década. A pé, de carona, de caminhão, orando, com unha encravada, confabulando sozinho ou acompanhado, dentro do meu carro, correndo de temporais, com febre ou com pressa, tenho vencido as poucas centenas de metros pelos anos. Nela já vi de cardeal a padre raso, de soldado engomado a ladrão lacrimejante, trabalhadores, artistas, vadios e até ninguém.
Por alguma razão meio explicável, a tal rua tem feito parte de minha história. E só notei isso ultimamente. Com atraso, reconheço. De uns tempos para cá, estou olhando com mais atenção aquele risco cartográfico cheio de porções de asfalto, cimento, buracos, grama e pontas de tropeço.
Quando ainda estudava na faculdade, era um excelente atalho. Generoso para a vista. Do início ao final do trecho, eu podia ver belos e vespertinos horizontes não só da própria Belo Horizonte, mas de parte de Contagem e até de outros lugares os quais minhas células oculares não conseguem separar como nos atuais mapas eletrônicos. Pelas calçadas convenientes, conseguia chegar a tempo para eu não perder os primeiros minutos das aulas do curso de Letras, ainda mais quando o motorista do ônibus resolvia não parar no ponto que me deixava só na metade do caminho. Cá entre nós, depois colocam a culpa no governo pelo problema do transporte coletivo... Para a frustração dos meio-politizados (e para a minha), não é só dele a responsabilidade pela ineficiência. Sou disso testemunha muscular. Fato: o desvio realmente encurtava a canseira.
Pouco tempo depois, arrumei serviço na região. Por ironia, precisaria tomar a mesma linha cruel, mas em um horário mais para laudes ou ordens do dia. Onze anos depois, mudei de empresa. O endereço da novidade também me força a transitar pelo lugar.
Olhei para o lado estes dias. Estão acabando de construir um prédio. Está lá, do lado direito. Justamente onde eu podia tentar achar o meu bairro. Perdi uma cara atração. Para não ficar de graça, porém, escrevo e não apago: não sou doido de morar naquele columbário. Fica perto do pequeno, mas ativo aeroporto. E se algum piloto inventa de tomar umazinha antes de pousar e acaba errando a pista? É perigo! A chance pode aumentar se o sujeito for incrédulo e se esquecer de jogar no pé da planta a augusta dose do santo. Não é pessimismo não, mas eu já pensei. E deu tempo. Coisa de quem caminha.
Essa história de prédio no meio da reta de meu bairro e do avião anda colocando em mim uma espécie de lente. Não consigo mais olhar do mesmo jeito aquela em si companheira de andança. Um filtro ótico tem-me feito observar situações antes despercebidas. Reconheço que o espaço só começou a me interessar de verdade depois de alguns fatos meio surreais, espantosos. Como em tantas ofegantes pernadas, não perderei tempo. Vou direto contando.
Como explicar, de um ônibus escolar, às seis e meia da manhã, bem na minha frente, descer um menino? O pequeno loiro, de merendeira e tudo, saltou do veículo, agradeceu ao motorista, abriu o portão e entrou em casa. Imaginei ser coisa de cidade grande, que costuma ter mania de não querer dormir (pensa que é um atributo). De repente, seria um jardim de infância na madrugada. Imagine ser vizinho de uma escola e da barulheira emanando da saúde dos pequenos em plena madrugada! Eta, isso parece coisa do bicho-ruim, e com minúscula mesmo! Diminuí a marcha e fiquei olhando a bizarrice.
Como agora, pensava estar no meu pleno juízo, apesar de não o querer naquele dia. Assim seria mais fácil defender-me das risadas descrentes. O pior de tudo: desde a primeira visão, há uns oito anos, essa cena repetiu-se por quase uma dezena de vezes, sem carreira certa. Parece pouco, mas foi o suficiente para eu novamente deter a pressa, provando a importância do fenômeno. Acha que, um dia, vou perguntar alguma coisa para aquelas criaturas? Eu não! De repente, o menino e os outros do ônibus podem não ter olhos, falar alguma profecia catastrófica de mim, soltar fogo pela boca... Prefiro é ficar encucado mesmo. É um problema e um motivo a menos para forçar-me à corrida apavorada por aqueles passeios cheios de desníveis. Valei-me, Deus, pode ter buraco novo!
Pouco tempo, muitas ambulações e economias depois, consegui comprar um carro já rodado. Alívio! Foi minha desforra contra o poder público e o motorista que gostava de deixar-me a ver nada no ponto. Mais feliz fiquei quando descobri ser mais barato eu ir trabalhar no meio particular que no público. Depois senti vergonha. Obviamente, nas minhas contas, ignorava a manutenção e a pancada de impostos a punir o meu suado conforto. Ainda bem: um inteligente qualquer criou a expressão “custo-benefício”. Assim minha consciência continuava jubilosa. Agora sim, veria a rua por outro ângulo. Orgulhosamente, começaria a andar no meio dela, em mão e contramão. Ganhei tempo, maciez no banco e uns quilos, os quais não consegui perder até hoje, indulgenciando-me de novo com o tal custo-benefício.
Pois bem, numa manhã fria, uma senhora saltou na frente do meu veículo. Respeitável e agasalhada, contou-me ofegante ter sido esquecida pelo filho encarregado de levá-la para a missa, celebrada num convento no final da via, à esquerda. No curtíssimo período, só não falou meu nome e sobrenome. Parecia saber de quase tudo de minha vida. Realmente eu me lembro bem dela. Passava por mim todas as manhãs. Usava cachecol, mesmo no verão. Contou detalhes do meu cotidiano, onde eu trabalhava, ofício e até horário... Chegamos rapidamente à porta da capela; um ou dois minutos. O tempo foi o suficiente para deixar-me boquiaberto e ganhar da piedosa vovó a promessa do pagamento em moeda de preces. Lembrei: a anciã sempre andava na direção contrária do ônibus anti-horário. Não a encontro mais.
E como explicar o caso da Dona Maria? Eu a tinha assim por pura falta de criatividade e porque achei ser esse mesmo o nome dela. Sempre a ultrapassava, quando eu estava a pé ou motorizado. Sentia-me uma carreta morro abaixo ultrapassando um fusquinha antigo morro acima, daqueles que funcionavam à base de cadarço movendo a roldana do motor. Sim, dava-me um prazer mesquinho deixá-la para trás. Esse era sempre um pequeno desafio a ser vencido. Puro deleite egoísta. Um venial pecado matutino, nada mais. Minha graça terminava logo. Não sei o porquê, mas a tal Dona Maria sempre já estava no ponto do ônibus coletivo (este convencional) quando eu passava por lá. Boas dezenas de metros na minha frente. A mulher pegaria carona com o escolar assombrado? A vantagem foi ver que o pecado da ultrapassagem já fora vingado, dispensando-me, na minha teologia própria, da confissão deste e de outros semelhantes. Para eu não baixar a crista, continuei deixando-a para trás quando conseguia mirá-la pelo caminho. Nem quis saber. Ficasse ela com o mistério, e eu, com meu pecado perdoável. E ficamos conversados.
Enigma também no moço do guarda-chuva. Previsível, pontual. Tanto que quase o esqueci neste conto. Com sol ou não, está lá. Parado, olhando para um lugar alto e fixo montado psiquiatricamente em uma direção diferente a cada dia. Sentinela da natureza. Que o digam as galinhas gordas e bravas alinhadas num poleiro da casa vizinha à loja de carros antigos. Pelo menos tem um serviço. Se ele sumir, sentirei falta.
Rua que assombra e é assombrada. Ontem, ia com meu novo carro velho. Devagar. A experiência adquirida em pouco mais de uma década me permitiu ser menos apressado, pelo menos ali. Olhar mais atencioso àquela trilha com nome. Atrás de mim, uma nuvem gigantesca. Chuva rodeante e dependurada para cair. Trovão em tom de caçamba despejando pedra. Subia pela única colina do trajeto uma senhora. Mais uma usuária da estrada urbana. Confiante e caridoso, freei. Falei da tempestade vizinha. Abri a porta. E ela negou a carona... Esqueci-me das regras da metrópole. Com minha gentileza, dei-me por errado. Valor invertido, mais um.
À noite, encontrei-me com um amigo, companheiro de passagens mais retas. Contou-me que uma de suas colegas do trabalho chorou o remorso encharcado. Perto do aeroporto, ela negou uma carona oferecida. Pensava depois ser a do próprio anjo da guarda.
Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com)
sexta-feira, 8 de maio de 2009
Que nos separemos
Alessandro Faleiro Marques*
Ela veio chegando mansamente e, mais ou menos, nos últimos três anos, entrou em minha vida. De repente, a inesperada companheira começou a andar comigo por onde eu ia. Não perguntava se podia. Simplesmente entrava comigo no carro, no ônibus e me seguia nos meus passeios, que, a cada dia, tornaram-se mais escassos.
De cara, já digo: não gostei. Era feia. Feia não, era assombrada como palavrão em sexta-feira de Quaresma. Eu tentava reagir, mas não adiantava. Pudera, a intrusa parecia não respeitar desejo de ninguém. Ela fazia o que queria, quando e onde bem entendia.
No início, era só um micromote para piadas ou outras conversas para passar o tempo. Entre risadas e goles, descobri: eu não era o único escolhido. Um amigo próximo chegou a confessar que passou em claro uma noite com a tal. Uma não, várias e várias noites. Mais tarde, ele me disse: foram também dias. Não fiquei com o menor ciúme, posso garantir.
Aos poucos, ela foi tomando conta de minha vida. Começou a implicar comigo quando eu me sentava ou me levantava. Era tão possessiva que nem dançar eu podia mais. Por causa dela, minha rotina começou a mudar. As gargalhadas dos amigos e até as minhas começaram a diminuir quando ela era o tema dos colóquios outrora gratuitos. Tive até de parar de fazer as tais caminhadas prescritas pelo telejornal da tarde. No fundo, confesso, até achei bom, pois meu espírito sedentário andava louco por colocar a culpa em alguém para voltar à cômoda posição ociosa. Nesse ponto, tinha pouco a me queixar da que forçava ser minha parceira.
Mesmo que ela insistisse, não tinha a menor intenção de juntar-me, amasiar-me, amigar-me, sei lá... A presença da ordinária não me inspirava nenhum sentimento de poesia, de fidelidade, de cumplicidade, de qualquer união estável, contratual civil ou religiosa, ou o que fosse. Rezava todos os dias para que a vida nos separasse.
Não me largava a infeliz. Pelo contrário, a cada dia, ela estava mais afeiçoada a mim. Parecia uma possessão das grandes. Cruz credo! Deixei de ter vontade e de ser livre. Dei-me conta de algo que, ao mesmo tempo, é e não é, controlando-me inclusive por dentro. Ave Maria!
Eu me rendi. Agora, não conseguiria resolver esse problema sem ajuda de outros. Uma lição de humildade que, infelizmente, sou obrigado de novo a creditar à companheira egocêntrica. Lamentei mais uma vez receber coisa boa dela, dessas que nos fazem crescer. Isso só contarei aqui. Farei tabu do aprendizado. Não espalharei e não farei propaganda da dita cuja. Não estou com a menor vontade de agradecê-la por nada. Afinal, ela me ensinou, mas foi caro. Custou-me tempo, dinheiro e os comentários maliciosos de alguns.
Armei verdadeira estratégia bélica. Resolvi: eu faria de tudo para tirá-la de minha vida. Entre idas e vindas a benzeções, banhos pouco aromáticos, terapias e aconselhamentos, quase fui atropelado, perdi tempo e meu telefone móvel e, algumas vezes, deixei até de comer do bolo de aniversário de meus colegas de trabalho.
Quando soube dos meus planos pouquíssimos secretos, a sirigaita, em atos surreais de zombaria, começou a acompanhar-me também na luta que armei contra ela, acredite. Como vingança, tirou o meu pouco garbo. O peso daquela cruz acabou interferindo em minha postura. As olheiras e a barriga aumentaram em mim. E ela, tal qual no início, cheia de si. Ela era fiel, nem queria saber se eu tinha boa aparência. As meninas deveriam aprender isso dela, contra a minha vontade, dou esse conselho.
Certa vez, por causa desse arremedo de bicho ruim, eu me senti tal como atração de zoológico. Isso aconteceu em uma dessas terapias alternativas. O que eu estava fazendo lá, meu Deus? Não tive tempo de arrepender-me. Não houve passe, reza, nada! Só encheram meu corpo de fios, e descarregaram progressivamente incômodos volts em mim. Meus músculos começaram a pular e, para uma pândega observação pseudocientífica (para mim, é claro), o responsável prendeu o respiro do riso, observando aquele pequeno terremoto muscular. Vieram outros e mais outros. Em poucos minutos, eu era dissecado virtualmente pelos especialistas. Eu soube até mesmo o nome técnico da minha nádega direita, dito por uma torta senhora vestida de branco. E a cruel companheira lá, faltando pouco ter um acesso de tanto gargalhar. Reza brava, sacramento, exorcismo, unção de tudo quanto há... Que nada! Meu “encosto” não me deixava nem eu ficar de joelhos direito.
Ultimamente, para o meu júbilo, anda meio desanimada. Será que a relação anda monótona para a ela? Bem feito! Tomara que sim. Às vezes, a danada chega tarde, sem dizer por onde andou, mesmo sabendo que nunca perguntaria isso a ela. Não quero nem saber! Vou continuar fazendo de tudo para livrar-me dessa pagã, essa tal dor nas costas que eu arrumei.
Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com)
Ela veio chegando mansamente e, mais ou menos, nos últimos três anos, entrou em minha vida. De repente, a inesperada companheira começou a andar comigo por onde eu ia. Não perguntava se podia. Simplesmente entrava comigo no carro, no ônibus e me seguia nos meus passeios, que, a cada dia, tornaram-se mais escassos.
De cara, já digo: não gostei. Era feia. Feia não, era assombrada como palavrão em sexta-feira de Quaresma. Eu tentava reagir, mas não adiantava. Pudera, a intrusa parecia não respeitar desejo de ninguém. Ela fazia o que queria, quando e onde bem entendia.
No início, era só um micromote para piadas ou outras conversas para passar o tempo. Entre risadas e goles, descobri: eu não era o único escolhido. Um amigo próximo chegou a confessar que passou em claro uma noite com a tal. Uma não, várias e várias noites. Mais tarde, ele me disse: foram também dias. Não fiquei com o menor ciúme, posso garantir.
Aos poucos, ela foi tomando conta de minha vida. Começou a implicar comigo quando eu me sentava ou me levantava. Era tão possessiva que nem dançar eu podia mais. Por causa dela, minha rotina começou a mudar. As gargalhadas dos amigos e até as minhas começaram a diminuir quando ela era o tema dos colóquios outrora gratuitos. Tive até de parar de fazer as tais caminhadas prescritas pelo telejornal da tarde. No fundo, confesso, até achei bom, pois meu espírito sedentário andava louco por colocar a culpa em alguém para voltar à cômoda posição ociosa. Nesse ponto, tinha pouco a me queixar da que forçava ser minha parceira.
Mesmo que ela insistisse, não tinha a menor intenção de juntar-me, amasiar-me, amigar-me, sei lá... A presença da ordinária não me inspirava nenhum sentimento de poesia, de fidelidade, de cumplicidade, de qualquer união estável, contratual civil ou religiosa, ou o que fosse. Rezava todos os dias para que a vida nos separasse.
Não me largava a infeliz. Pelo contrário, a cada dia, ela estava mais afeiçoada a mim. Parecia uma possessão das grandes. Cruz credo! Deixei de ter vontade e de ser livre. Dei-me conta de algo que, ao mesmo tempo, é e não é, controlando-me inclusive por dentro. Ave Maria!
Eu me rendi. Agora, não conseguiria resolver esse problema sem ajuda de outros. Uma lição de humildade que, infelizmente, sou obrigado de novo a creditar à companheira egocêntrica. Lamentei mais uma vez receber coisa boa dela, dessas que nos fazem crescer. Isso só contarei aqui. Farei tabu do aprendizado. Não espalharei e não farei propaganda da dita cuja. Não estou com a menor vontade de agradecê-la por nada. Afinal, ela me ensinou, mas foi caro. Custou-me tempo, dinheiro e os comentários maliciosos de alguns.
Armei verdadeira estratégia bélica. Resolvi: eu faria de tudo para tirá-la de minha vida. Entre idas e vindas a benzeções, banhos pouco aromáticos, terapias e aconselhamentos, quase fui atropelado, perdi tempo e meu telefone móvel e, algumas vezes, deixei até de comer do bolo de aniversário de meus colegas de trabalho.
Quando soube dos meus planos pouquíssimos secretos, a sirigaita, em atos surreais de zombaria, começou a acompanhar-me também na luta que armei contra ela, acredite. Como vingança, tirou o meu pouco garbo. O peso daquela cruz acabou interferindo em minha postura. As olheiras e a barriga aumentaram em mim. E ela, tal qual no início, cheia de si. Ela era fiel, nem queria saber se eu tinha boa aparência. As meninas deveriam aprender isso dela, contra a minha vontade, dou esse conselho.
Certa vez, por causa desse arremedo de bicho ruim, eu me senti tal como atração de zoológico. Isso aconteceu em uma dessas terapias alternativas. O que eu estava fazendo lá, meu Deus? Não tive tempo de arrepender-me. Não houve passe, reza, nada! Só encheram meu corpo de fios, e descarregaram progressivamente incômodos volts em mim. Meus músculos começaram a pular e, para uma pândega observação pseudocientífica (para mim, é claro), o responsável prendeu o respiro do riso, observando aquele pequeno terremoto muscular. Vieram outros e mais outros. Em poucos minutos, eu era dissecado virtualmente pelos especialistas. Eu soube até mesmo o nome técnico da minha nádega direita, dito por uma torta senhora vestida de branco. E a cruel companheira lá, faltando pouco ter um acesso de tanto gargalhar. Reza brava, sacramento, exorcismo, unção de tudo quanto há... Que nada! Meu “encosto” não me deixava nem eu ficar de joelhos direito.
Ultimamente, para o meu júbilo, anda meio desanimada. Será que a relação anda monótona para a ela? Bem feito! Tomara que sim. Às vezes, a danada chega tarde, sem dizer por onde andou, mesmo sabendo que nunca perguntaria isso a ela. Não quero nem saber! Vou continuar fazendo de tudo para livrar-me dessa pagã, essa tal dor nas costas que eu arrumei.
Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com)
Marcadores:
Cotidiano,
crônica,
Literatura
quarta-feira, 22 de abril de 2009
Novo Acordo Ortográfico: mais polêmica depois do VOLP
Já começa a circular a quinta edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), elaborado pelos “imortais” da Academia Brasileira de Letras (ABL). A notícia é excelente, já que poderá pôr um ponto final em várias discussões entre profissionais e amantes da língua de Camões, Machado de Assis, Fernando Pessoa e Guimarães Rosa (deste também!). Note: poderá! Ao se fazer um rápido confronto entre os dicionários e manuais lançados recentemente, pode-se ver que foi perdido muito do esforço dos autores que tentaram desbravar o Novo Acordo Ortográfico .
Como quase toda grande mudança, há tumulto mesmo, mas, desta vez, as coisas estão mais tenebrosas. Diferente dos novos dicionários, “pé de moleque” não tem mais hífen para a ABL, tanto faz ser o delicioso doce quanto a parte do corpo de um menino travesso. O mesmo aconteceu com “dia a dia”, expressão que será usada sem hífen no sentido de cotidiano e no de sequência de dias.
Diante dessas e de muitíssimas outras “novidades”, ficam várias dúvidas e umas poucas certezas. Entre os questionamentos, pode-se perguntar: se o Novo Acordo estava elaborado há tanto tempo, desde a década de 1990 no mínimo, por que a ABL esperou que ele entrasse em vigor para somente depois lançar o VOLP? Por que não o publicou com a mesma voracidade que os dicionaristas? Será que faltou a alguns “imortais” a sensibilidade de ver que a maioria dos falantes está no mundo de mortais, em que a agilidade é um valor?
A verdade comprovável até agora é que os mais prejudicados (pra variar) foram os consumidores, que correram para manter-se atualizados com a nova ortografia e compraram gramáticas, manuais, dicionários e outras publicações. Os editores (exceto os do VOLP) também foram novamente penalizados. Depois de refazer os livros, agora terão de readaptar as obras ao novo vocabulário da ABL. Nada mais inconveniente nestes tempos da anunciadíssima crise.
As polêmicas não ficam por aí. Envolvem também política. Portugal, que parece não estar com tanta pressa em alterar sua ortografia, mesmo tendo assinado o Novo Acordo, não gostou muito da iniciativa brasileira. Se, por acaso, os “imortais” do país de Eça de Queirós lançarem o próprio Vocabulário Ortográfico (o que não se pode duvidar), estará decretado o insucesso dos objetivos principais da atualização, que seriam tentar padronizar a escrita e fortalecer a língua portuguesa no cenário mundial. Seguindo a tendência, os lusófonos da África, seguindo ou Portugal, ou Brasil, ou a própria autodeterminação linguística, ajudariam a dividir o reino, enfraquecendo-o. Será que esse problema foi discutido durante os chás dos acadêmicos?
Aqui uma ousadia: aos “imortais” vai um agradecimento e uma súplica. O muito obrigado vai pela dedicação do novo VOLP “aos que usam a língua portuguesa como bem comum” e pelo convite “a colaborar com achegas, sugestões, críticas e correções”, tudo para o aperfeiçoamento da obra. Caros acadêmicos, realmente essa obra é grandiosa e será útil. Agora, por Deus, este o verdadeiro imortal, não corrijam mais nada.
*Professor, revisor de textos e redator
Texto originalmente publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com.)
Marcadores:
cidadania,
Cotidiano,
Cultura,
Educação,
Língua Portuguesa
Assinar:
Postagens (Atom)