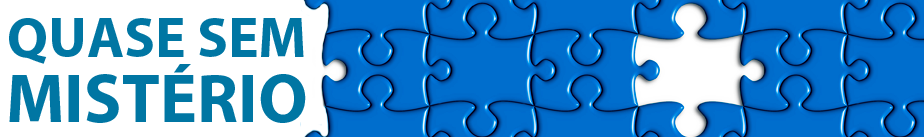Alessandro Faleiro Marques*
Como a literatura brasileira, com exceções, anda vivendo basicamente de
autoajuda e relançamentos, “A Cabana”, mais uma obra internacional,
movimenta as livrarias do Brasil. Depois do sucesso de “O Código da
Vinci” e “Anjos e Demônios”, a religião volta a atiçar a curiosidade do
leitor. “A Cabana”, do escritor canadense William P. Young (Editora
Sextante, 2008. 240 p.), retoma a velha e bem-sucedida fórmula de
colocar frente a frente Deus e o ser humano.
Depois do assassinato da filha, Mackenzie Allen Phillips (ou Mack, como é
chamado no livro), típico americano de classe média, recebe um bilhete
assinado por “Papai”. Não resistindo ao convite, o protagonista (humano)
decide passar um final de semana no lugar indicado, a floresta onde
teria sido morta a caçula. Numa cabana abandonada, que ganha um novo
cenário, digno de uma aparição divina, ele tem um diálogo impressionante
com as três pessoas da Santíssima Trindade: “Papai”, Jesus e Sarayu.
Como em qualquer boa conversa com Deus, Mack passa por um envolvente
processo de questionamento e purificação.
Quem imagina o Senhor de barba longa, camisola branca e com cara de bravo vai decepcionar-se. O livro resgata o Abba,
o Papai de Jesus, algo que, há dois milênios, o Salvador nos ensinou a
fazer, apesar de muitos ainda resistirem à ideia.
Em “A cabana”, “Papai” é uma senhora negra, bonachona, uma mãe boa de
conselhos e de cozinha. Nada que os cristãos de verdade não deveriam já
saber. O Papa João Paulo I, mesmo governando a Igreja por 34 dias, em
1978, deixou como legado espiritual a ideia de Deus Pai e Mãe ao mesmo
tempo. Obviamente, Mack, como a maioria dos fiéis, custa a acostumar-se
com aquela figura. Ponto para o autor. Sarayu, a moça oriental de
atitude leve, é uma boa representação do Espírito Santo. Ela é
jardineira, encantada, livre. Onde ela está, sempre há perfume, ar. A
palavra “espírito” significa brisa, sopro, vento. “O vento sopra onde
quer”, já dizia São João (Jo 3,8), e Sarayu é assim. Em boa parte do
enredo, é uma figura estranha para o convidado. Com feições orientais,
Jesus é um marceneiro, companheiro físico e espiritual de Mack. Em
relação ao Redentor, parece haver menos estranhamento da parte do
visitante. Pudera: Jesus é “Deus Conosco”, o Verbo encarnado. No
entendimento de Mack, Cristo conhece bem as limitações humanas. Nada
contrário à fé de um cristão atento.
Em livros como “A Cabana”, às vezes, o problema são os leitores. Da
parte do autor, ele fez o que pôde para contar uma boa história.
Conteúdos acessíveis e bons, cenários e personagens interessantes,
desfecho surpreendente. O engraçado nisso é os leitores pensarem ser a
obra um novo livro sagrado. No próprio volume, há uma campanha para
divulgá-lo (é claro!). Eu mesmo o fiz (e estou fazendo agora), mas no
aspecto literário, não teológico. Espiritueiros de última hora acham que
descobriram a roda, como aconteceu ao lerem clássicos como a série
“Operação Cavalo de Troia”, de J.J. Benítez, sucesso até hoje. Pensam saber de tudo dos
bastidores vaticanos com “Anjos e Demônios” e ser “O Código da Vinci” um
guia turístico-religioso. O mercado literário e cinematográfico,
principalmente o estrangeiro, agradece.
Achar que Deus vai baixar do Céu e vir à Terra conversar com os homens é
recurso transcendental fácil. Para todos, uma boa notícia pelos olhos da fé: a Trindade
já está entre nós. A experiência de Deus acontece todos os dias, nos
lugares e formas mais interessantes. A unidade das Três Pessoas se
manifesta no próximo, sobretudo nos pobres “em” (não “de”) espírito, nos doentes, nos encarcerados, nos excluídos. A obra divina
se mostra na beleza da arte, da natureza. “Mamãe” se deixa ouvir no
silêncio. Não adianta tocar-se com a mensagem de Papai, de Jesus e de
Sarayu e deixar de olhar em volta, de valorizar a vida. A criação
iniciada por Deus continua sob nossa responsabilidade. Cuidar do outro e
deixar-se cuidar é atitude espiritual.
Se alguém quiser ouvir Jesus realmente, pasmem, os evangelhos ainda são a
fonte mais segura. Neles, Cristo é mais surpreendente do que em “A
Cabana”. “Papai” já foi anunciado assim há dois mil anos. Quanto ao
Espírito, a Brisa, deste não posso falar, pois acabou a minha
inspiração, deve ter ido soprar em outro ouvido.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
quinta-feira, 17 de setembro de 2009
O Deus de “A Cabana”
Marcadores:
Cotidiano,
Espiritualidade,
Literatura
quinta-feira, 3 de setembro de 2009
A Guerreira que devolveu a música aos brasileiros
Alessandro Faleiro Marques*
Nestas duas últimas décadas, quem vê cantoras levando multidões a estádios, parques de exposição e casas de espetáculo nem imagina como foi difícil as mulheres conquistarem também o espaço dos palcos. Desde a magnífica Chiquinha Gonzaga e talvez outras que viveram antes dela, enterradas bem fundo pela ignorância histórica, muitas vezes as artistas eram desacreditadas.
Entre as décadas de 1960 e início da de 1980, a história resolveu mudar. Nas ladainhas em latim entoadas pelo coro da matriz de Caetanópolis, em Minas Gerais, ouvia-se a voz da menina Clara Francisca Gonçalves Pinheiro. Com o sobrenome artístico herdado da mãe, passou a ser chamada de Clara Nunes. Depois de muito sucesso no rádio e inspirada por vozes de outras grandes mulheres, como de Carmem Costa, Elizeth Cardoso, Dalva de Oliveira e Ângela Maria, Clara gradualmente se tornou uma espécie de embaixadora da música brasileira para os próprios brasileiros.
A missão da Guerreira veio em uma época particularmente difícil para a nossa música popular. Por motivos nem sempre nobres, nos anos 60 e 70, as canções estrangeiras, sobretudo as estadunidenses, esmagavam muitos talentos nacionais e devassavam os espaços na mídia. Muitos sucessos em português apresentados por artistas do Brasil nada mais eram do que “releituras” das músicas compostas por artistas dos EUA ou da Inglaterra. Por ignorância ou sede de sucesso, muitos tinham pseudônimos em inglês e nessa língua cantavam. Tudo sob a conivência do público, faça-se justiça.
Por outro lado, cheia de alegria, com seus balangandãs, levando o chocalho na canela, e paramentada com o vestido branco da umbanda, Clara Nunes relembrou ao povo: existia samba além carnaval e forró além São João. Com Sivuca, ela contou ao Brasil como era a Feira de Mangaio, tudo ao som de uma contagiante e puríssima sanfona nordestina. Na voz dela, o Brasil ouvia em samba e coral afro um dos mais célebres lamentos nacionais, o Canto das Três Raças. Quem melhor do que Clara poderia interpretar a comparação entre o desfile da Portela e uma procissão?
Alguém agora pode estar lembrando-se agora do papel de Elis Regina. A missão de Elis foi a de refinar a música, lançando novos nomes e um jeito caloroso de interpretar. Por isso, ainda hoje, ela atrai mais o público “cult”. Não é muito o caso de Clara Nunes. Esta também tinha uma interpretação maravilhosa, no entanto fez mais um trabalho de resgate de algo que existia, mas andava esquecido pelo povo. Por providência divina, Clara e Elis viveram na mesma época e partiram cedo, deixando, cada uma a seu modo, uma importantíssima contribuição para a cultura brasileira.
A própria vida de Clara Nunes é a principal mensagem que ela nos dá. De menina do interior a operária e grande cantora popular, a primeira a vender mais de cem mil cópias, quebrando um tabu, a “tal mineira” foi uma legítima brasileira. A moça adotada pelo povo ainda nos quer chamar a atenção para as vozes divinas de homens e mulheres que a mídia insiste em silenciar. Ela nos pede um olhar mais carinhoso para as nossas raízes preciosas nestes tempos de muito barulho, falta de melodia e de criatividade. Quem melhor poderia ser chamada de Guerreira?
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
Nestas duas últimas décadas, quem vê cantoras levando multidões a estádios, parques de exposição e casas de espetáculo nem imagina como foi difícil as mulheres conquistarem também o espaço dos palcos. Desde a magnífica Chiquinha Gonzaga e talvez outras que viveram antes dela, enterradas bem fundo pela ignorância histórica, muitas vezes as artistas eram desacreditadas.
Entre as décadas de 1960 e início da de 1980, a história resolveu mudar. Nas ladainhas em latim entoadas pelo coro da matriz de Caetanópolis, em Minas Gerais, ouvia-se a voz da menina Clara Francisca Gonçalves Pinheiro. Com o sobrenome artístico herdado da mãe, passou a ser chamada de Clara Nunes. Depois de muito sucesso no rádio e inspirada por vozes de outras grandes mulheres, como de Carmem Costa, Elizeth Cardoso, Dalva de Oliveira e Ângela Maria, Clara gradualmente se tornou uma espécie de embaixadora da música brasileira para os próprios brasileiros.
A missão da Guerreira veio em uma época particularmente difícil para a nossa música popular. Por motivos nem sempre nobres, nos anos 60 e 70, as canções estrangeiras, sobretudo as estadunidenses, esmagavam muitos talentos nacionais e devassavam os espaços na mídia. Muitos sucessos em português apresentados por artistas do Brasil nada mais eram do que “releituras” das músicas compostas por artistas dos EUA ou da Inglaterra. Por ignorância ou sede de sucesso, muitos tinham pseudônimos em inglês e nessa língua cantavam. Tudo sob a conivência do público, faça-se justiça.
Por outro lado, cheia de alegria, com seus balangandãs, levando o chocalho na canela, e paramentada com o vestido branco da umbanda, Clara Nunes relembrou ao povo: existia samba além carnaval e forró além São João. Com Sivuca, ela contou ao Brasil como era a Feira de Mangaio, tudo ao som de uma contagiante e puríssima sanfona nordestina. Na voz dela, o Brasil ouvia em samba e coral afro um dos mais célebres lamentos nacionais, o Canto das Três Raças. Quem melhor do que Clara poderia interpretar a comparação entre o desfile da Portela e uma procissão?
Alguém agora pode estar lembrando-se agora do papel de Elis Regina. A missão de Elis foi a de refinar a música, lançando novos nomes e um jeito caloroso de interpretar. Por isso, ainda hoje, ela atrai mais o público “cult”. Não é muito o caso de Clara Nunes. Esta também tinha uma interpretação maravilhosa, no entanto fez mais um trabalho de resgate de algo que existia, mas andava esquecido pelo povo. Por providência divina, Clara e Elis viveram na mesma época e partiram cedo, deixando, cada uma a seu modo, uma importantíssima contribuição para a cultura brasileira.
A própria vida de Clara Nunes é a principal mensagem que ela nos dá. De menina do interior a operária e grande cantora popular, a primeira a vender mais de cem mil cópias, quebrando um tabu, a “tal mineira” foi uma legítima brasileira. A moça adotada pelo povo ainda nos quer chamar a atenção para as vozes divinas de homens e mulheres que a mídia insiste em silenciar. Ela nos pede um olhar mais carinhoso para as nossas raízes preciosas nestes tempos de muito barulho, falta de melodia e de criatividade. Quem melhor poderia ser chamada de Guerreira?
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
Assinar:
Postagens (Atom)