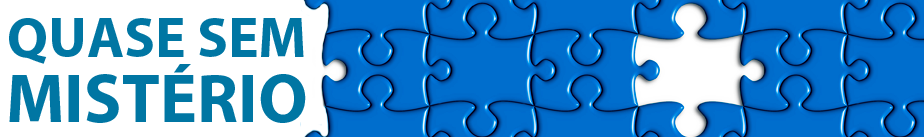Encantamento e piedade não foram as únicas coisas a nos tocar na rápida peregrinação ao Santuário Nacional. A capital católica do Brasil também tem as suas profanas sombras. São em intensidade menor que as da outra, no planalto central. Em Aparecida, contudo, parecem incomodar mais justamente porque nos pegam despreparados.
Logo ao chegarmos ao estacionamento da Basílica, sentimos muita falta dos caminhoneiros. Um antigo costume leva os viajantes do Vale do Paraíba a fazerem um rápido pouso sob o manto da Mãe de Jesus. Onde estariam? Talvez lá, reduzidos na imensidão do templo, mas não os notamos. Que, pelo menos, os vejamos da próxima vez.
A questão do comércio, demanda histórica dos mais críticos, também nos chamou a atenção. Mesmo nós, resignados em um ambiente urbano, acostumados com lojas ávidas pelo dinheiro das multidões e alimentadas pelo carbono do ar, ficamos um pouco constrangidos com o tamanho do chamado “Centro de Apoio ao Romeiro”. Sinceramente, não é muito diferente dos shoppings populares espalhados pelo Brasil. Que o digam os fabricantes chineses. Tivemos certa boa vontade em ver de outro modo o espaço, mas não deu. Pensamos, por exemplo, ser a música tocada no centro da praça de alimentação uma dessas canções religiosas modernas. Não era. Como em qualquer bom palco violão-banquinho, soava um belo clássico de Djavan. Quando nos demos e fizemos as contas, as sacolas já pesavam nossas mãos. Ofegantes, nós nos flagramos com uma lista na mão e pouco no bolso. Não pudemos nos defender frente à nossa consciência. Durante pouquíssimas horas, perdemos o foco. Pagamos o preço. Literalmente.
Perder o rumo da alma em Aparecida é muito fácil. Uma tentação. Parque de diversões, aquário, mulher-macaco, feira que vende de um a tudo. O pior é quando eles nos perdem a vista. Ficamos chocados quando, do mirante da torre, encontramos só a ponta da outra, a da Basílica Antiga. Antes, do alto da colina, os peregrinos já podiam contemplar o histórico templo. Símbolo de uma viagem bem-sucedida. Um dos célebres milagres registrados na terra da Padroeira foi justamente o de uma menina cega que, ao ser levada pela mãe ao santuário, perguntou de longe se aquele que via era o templo de Nossa Senhora. A ganância de uns, a falta de senso histórico de outros e a ignorância de todos permitiram o cerco de concreto à antiga igreja. Prédios de péssimo gosto arquitetônico sufocaram a praça e parte da história do Brasil. O conjunto da igreja singela e da praça sobrevive, desfigurado.
Ainda quanto ao gosto, fomos vítimas de nosso orgulho. Pecamos de novo. Quando visitamos o santuário de Lujan, na Argentina, tentamos provar algumas das iguarias preparadas por nossos irmãos e vizinhos. As vísceras assadas definitivamente não combinaram com o calor úmido daquele dia. Mesmo assim, salpicando críticas cochichadas em português mineiro, engolimos alguma coisa. Pensamos que, em Aparecida, no nosso santuário, seria nossa apimentada "vingança". Caímos no canto da sereia, disfarçada de porteiro de restaurante. Comemos a pior comida de nossa vida. Um espaguete profano e ruim. Sem graça e caro, quase com direito a troco errado de sobremesa. Ponto para a Nossa Senhora de lá.
Para encerrar a lista das observações mais mundanas, não podemos deixar de mencionar de novo o comércio articulado dentro do próprio santuário. Contemplamos o mirante e o museu. Visita paga, mas justa e proveitosa. Na saída, a porta do elevador nos joga para o corredor demarcado por cordas. Contra a nossa vontade, vimo-nos empurrados para a lojinha, ao pé da torre. O silêncio mútuo da hora denunciou: não gostamos. À direita, outra loja: artigos religiosos, água do Paraíba e até ex-votos de cera. Como se eu, morando na casa de minha mãe, vendesse o presente que você daria para ela. Na gloriosa Sala das Promessas, o resultado: os membros de cera são praticamente iguais. Produção em série. Por conveniência, os peregrinos estão deixando de levar seus objetos cheios do colorido regional. Eles os compram ali, ao lado. O espaço, resumo do Brasil, como já dito nesta série, perdendo parte do brilho.
Não gostaríamos de terminar esta série falando mal da Mãe. Afinal, ela nos acolhe e sabe nosso nome. Temperos ruins, ganância e bolsos vazios não impedirão nossa volta à casa da Rainha Morena. Pecadores também somos. Como acontece quando nos aproximamos da mãe, aprendemos mais uma lição. Aqui virou reza: Mãe, negra e pobre como os pobres escravos, Rainha rica em bondade e beleza, fecha nossos olhos e ouvidos ao que nos desvia de teu Filho e de ti. Abre nossa alma para ouvirmos o teu silêncio sábio. Permite podermos contemplar só a tua sabedoria, os teus olhos e o teu doce e barroco sorriso. Que o sabor de tua casa seja o do pão dos anjos. Sejam os caminhos planos, mesmo no subir da Serra. Mãe, como fizemos em teu santuário, visita a nossa casa. Amém.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator, peregrino e revisor de textos
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com)