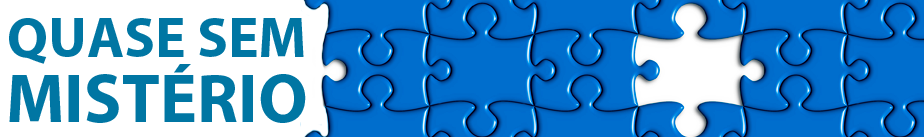quinta-feira, 13 de agosto de 2009
O caso do drible
Alessandro Faleiro Marques*
Ele era o típico moleque bom de bola. Nunca foi dono de uma, mas sabia como poucos acariciar a redonda. Seus passes e passos eram disputados por times gloriosos da várzea. Encarava tudo. Jogo em campo escavado em barranco de terra vermelha, área de risco de tudo quanto havia. Chuva, sol, manhã de domingo encefaleico e até noite cansada, nada impedia aquele negro liso de mostrar publicamente o romance quente com a pelota.
O mês foi de alegria. Depois de anos caroneando, o craque conseguiu emprego. Não compraria uma bola, mas o telhado para pôr no casebre onde se escondia precário com a mãe e as irmãs. Tinha sorriso redondo e conversa fácil. Entrosou sem dificuldades com os primeiros colegas de trabalho. Em uma semana, já estava na dianteira do ataque na disforme seleção da firma.
Ganhou o direito de participar do primeiro amistoso contra os pernudos das forças armadas. Gente elegante em cedo azul de sábado. O moço sabia entoar o virundum. Do time era só ele. Exigência da mãe. O gerente sério e o supervisor letrado tropeçaram nos invertidos verbais da melodia nacional. Menos o rapaz. Ele cantou e recantou. Nem bateu palmas no final, como manda a etiqueta meio esquecida.
Bola rolou no compromisso interessante. De primeira, o arremedo de Pelé deixou dois no chão. Sargento e soldado raso. Chutou, e o tenente goleiro nem teve trabalho exceto o de riscar no olho o rumo do objeto. Carimbo no alumínio atravessado. Susto só. Mais uns minutos poucos, e lá veio ele. Fez que ia, fingiu que pisava. Soldado, o mesmo de antes, e cabo no piso. Só correu para o centro da grande circunferência de cal. Mais um gol na carreira entranhada. Nem ligou para o solo de festa. Estava acostumado. De novo, a donzela achou o príncipe. Corrida solitária, grama no alto. Falta! O próprio time fez de escudo o doce negro. “É só deixar pra ele”, berrou o porteiro. Todos certos. O porteiro e o craque. E o tenente buscava outra no fundo do caixote de barbante. Nem dez minutos fazia.
Depois de outras gingadas humilhações e guerreiros no relvado, o capitão em patente e honra do time aéreo não aguentou. “Ô Cabo, soldado, vocês tão dormindo? É pr’abater! É pra jogar em pé!” “Positivo, capitão!” Logo mais uma vítima: o soldado da lateral. Entortado pelo corpo de mola do negro educado. Mais bronca do capitão. Ameaça de ficar depois do expediente. Mais dribles, mais xingos. Coisa impublicável. Mais reboles de canela. Oficiais na horizontal. Desta vez, ameaça de cela. Nem era fim do primeiro tempo, e o negócio andava feio. Sol quente e vista suada. Pobre tenente, já praticamente rebaixado de posto assistindo à bola entrar. “Esse moço é o cão, senhor!” “O senhor é uma galinha, senhor”, contralançou o líder bravo.
Aquele falatório de enxofre incomodou o moço. No campo de terra, quando não tem briga, a turma joga, e tudo acaba numa cumbuca de feijão gordo no bar da praça. Costumam nem precisar do tal de “fair play”, coisa que aparece por lá, junto com novas camisas, só em época de eleição. Seis a zero. Quatro do centroavante e um do auxiliar de estoque. O sexto foi contra. O susto foi o autor deste, quando o cadete viu o negro brilhante chegar, e tocou para a meta errada. Fim do primeiro tempo. Um verdadeiro espetáculo do herói de ébano. Quanto ao capitão, teve de criar novos palavrões para ver se o time fardado pegava no tranco.
Um pedido assustou os paisanos, já assombrados com a raridade do vestiário profissional. A estrela do time pediu para ser zagueiro. Com os punhos descansando no abdômen cevado, todos concordaram. Água gelada, bexiga vazia e volta ao campo.
Segunda etapa do junta-junta esportivo. “Cabo, aquele negão deve estar querendo aprontar alguma”, desconfiou o sargento rodado. Acertou. O plano do novo defensor tinha motivo nobre. Uma aula de humildade não pra ele, já doutorado, mas para o comandante do outro time. O capitão tinha sido poupado dos riscados gloriosos do primeiro tempo. Pensava ser bom. Escalou-se para o ataque e ficou livre do confronto hormonal com o dianteiro cor de chocolate. Este mostrava um sorriso mais largo que o da primeira etapa. O jovem operário defendia tudo. A pepita parecia sair dos pés dos atacantes e correr para os dele, qual ímã. A meta do zagueiro nobre deixava de ser o gol, mas outra, e atrevida.
Com a mudança de posição do artilheiro, o time perdendo respirava, pois o placar jazia inalterado, liberando mais militares para a ofensiva. Numa dessas, o capitão driblou o Guengué motorista, deitou com um vai-que-não-vai o Chucruta faxineiro, chapelou o Tonho Alcântra vigia e deixou comendo grama o encarregado Pedreira. Parou a festa justamente no último defensor. Como era de se esperar, a bola pulou do pé do oficial e colou nos dois do zagueiro de luxo. Em vez de mandá-la para frente, naqueles fragmentos de segundo, resolveu tornar-se um mortal pecador que cultiva uma clássica vingança. Pisou na gordinha, acariciou-a com a sola da chuteira gasta, e, num átimo, jogou a redonda por entre as pernas da vítima. Desequilibrado, o desaforado ainda tomou um lençol, dois dribles de letra e um rabo-de-vaca. Veio o golpe de misericórdia: mais uma passada por entre as canelas. Comandante prostrado. Despediu-se do couro redondo e o mandou pra frente.
Murmúrios e risos escondidos nos dois times. No fundo, todos agradaram da aula, repetida ainda uma meia dúzia de vezes naqueles 45 minutos. O capitão pendurou as chuteiras ali mesmo. Na segunda-feira, o time armado não falou mais no assunto. O artilheiro também não.
* Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos. Às vezes, inventa verdades.
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com).
Marcadores:
Cotidiano,
crônica,
Literatura
Assinar:
Postagens (Atom)