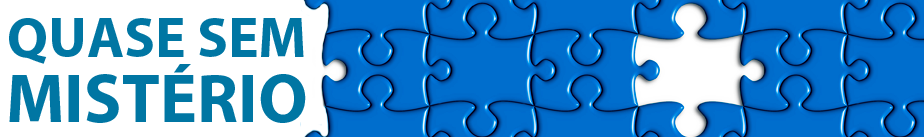Alessandro Faleiro Marques*
Pelas minhas contas, passo por aquela via sinuosa há mais de uma década. A pé, de carona, de caminhão, orando, com unha encravada, confabulando sozinho ou acompanhado, dentro do meu carro, correndo de temporais, com febre ou com pressa, tenho vencido as poucas centenas de metros pelos anos. Nela já vi de cardeal a padre raso, de soldado engomado a ladrão lacrimejante, trabalhadores, artistas, vadios e até ninguém.
Por alguma razão meio explicável, a tal rua tem feito parte de minha história. E só notei isso ultimamente. Com atraso, reconheço. De uns tempos para cá, estou olhando com mais atenção aquele risco cartográfico cheio de porções de asfalto, cimento, buracos, grama e pontas de tropeço.
Quando ainda estudava na faculdade, era um excelente atalho. Generoso para a vista. Do início ao final do trecho, eu podia ver belos e vespertinos horizontes não só da própria Belo Horizonte, mas de parte de Contagem e até de outros lugares os quais minhas células oculares não conseguem separar como nos atuais mapas eletrônicos. Pelas calçadas convenientes, conseguia chegar a tempo para eu não perder os primeiros minutos das aulas do curso de Letras, ainda mais quando o motorista do ônibus resolvia não parar no ponto que me deixava só na metade do caminho. Cá entre nós, depois colocam a culpa no governo pelo problema do transporte coletivo... Para a frustração dos meio-politizados (e para a minha), não é só dele a responsabilidade pela ineficiência. Sou disso testemunha muscular. Fato: o desvio realmente encurtava a canseira.
Pouco tempo depois, arrumei serviço na região. Por ironia, precisaria tomar a mesma linha cruel, mas em um horário mais para laudes ou ordens do dia. Onze anos depois, mudei de empresa. O endereço da novidade também me força a transitar pelo lugar.
Olhei para o lado estes dias. Estão acabando de construir um prédio. Está lá, do lado direito. Justamente onde eu podia tentar achar o meu bairro. Perdi uma cara atração. Para não ficar de graça, porém, escrevo e não apago: não sou doido de morar naquele columbário. Fica perto do pequeno, mas ativo aeroporto. E se algum piloto inventa de tomar umazinha antes de pousar e acaba errando a pista? É perigo! A chance pode aumentar se o sujeito for incrédulo e se esquecer de jogar no pé da planta a augusta dose do santo. Não é pessimismo não, mas eu já pensei. E deu tempo. Coisa de quem caminha.
Essa história de prédio no meio da reta de meu bairro e do avião anda colocando em mim uma espécie de lente. Não consigo mais olhar do mesmo jeito aquela em si companheira de andança. Um filtro ótico tem-me feito observar situações antes despercebidas. Reconheço que o espaço só começou a me interessar de verdade depois de alguns fatos meio surreais, espantosos. Como em tantas ofegantes pernadas, não perderei tempo. Vou direto contando.
Como explicar, de um ônibus escolar, às seis e meia da manhã, bem na minha frente, descer um menino? O pequeno loiro, de merendeira e tudo, saltou do veículo, agradeceu ao motorista, abriu o portão e entrou em casa. Imaginei ser coisa de cidade grande, que costuma ter mania de não querer dormir (pensa que é um atributo). De repente, seria um jardim de infância na madrugada. Imagine ser vizinho de uma escola e da barulheira emanando da saúde dos pequenos em plena madrugada! Eta, isso parece coisa do bicho-ruim, e com minúscula mesmo! Diminuí a marcha e fiquei olhando a bizarrice.
Como agora, pensava estar no meu pleno juízo, apesar de não o querer naquele dia. Assim seria mais fácil defender-me das risadas descrentes. O pior de tudo: desde a primeira visão, há uns oito anos, essa cena repetiu-se por quase uma dezena de vezes, sem carreira certa. Parece pouco, mas foi o suficiente para eu novamente deter a pressa, provando a importância do fenômeno. Acha que, um dia, vou perguntar alguma coisa para aquelas criaturas? Eu não! De repente, o menino e os outros do ônibus podem não ter olhos, falar alguma profecia catastrófica de mim, soltar fogo pela boca... Prefiro é ficar encucado mesmo. É um problema e um motivo a menos para forçar-me à corrida apavorada por aqueles passeios cheios de desníveis. Valei-me, Deus, pode ter buraco novo!
Pouco tempo, muitas ambulações e economias depois, consegui comprar um carro já rodado. Alívio! Foi minha desforra contra o poder público e o motorista que gostava de deixar-me a ver nada no ponto. Mais feliz fiquei quando descobri ser mais barato eu ir trabalhar no meio particular que no público. Depois senti vergonha. Obviamente, nas minhas contas, ignorava a manutenção e a pancada de impostos a punir o meu suado conforto. Ainda bem: um inteligente qualquer criou a expressão “custo-benefício”. Assim minha consciência continuava jubilosa. Agora sim, veria a rua por outro ângulo. Orgulhosamente, começaria a andar no meio dela, em mão e contramão. Ganhei tempo, maciez no banco e uns quilos, os quais não consegui perder até hoje, indulgenciando-me de novo com o tal custo-benefício.
Pois bem, numa manhã fria, uma senhora saltou na frente do meu veículo. Respeitável e agasalhada, contou-me ofegante ter sido esquecida pelo filho encarregado de levá-la para a missa, celebrada num convento no final da via, à esquerda. No curtíssimo período, só não falou meu nome e sobrenome. Parecia saber de quase tudo de minha vida. Realmente eu me lembro bem dela. Passava por mim todas as manhãs. Usava cachecol, mesmo no verão. Contou detalhes do meu cotidiano, onde eu trabalhava, ofício e até horário... Chegamos rapidamente à porta da capela; um ou dois minutos. O tempo foi o suficiente para deixar-me boquiaberto e ganhar da piedosa vovó a promessa do pagamento em moeda de preces. Lembrei: a anciã sempre andava na direção contrária do ônibus anti-horário. Não a encontro mais.
E como explicar o caso da Dona Maria? Eu a tinha assim por pura falta de criatividade e porque achei ser esse mesmo o nome dela. Sempre a ultrapassava, quando eu estava a pé ou motorizado. Sentia-me uma carreta morro abaixo ultrapassando um fusquinha antigo morro acima, daqueles que funcionavam à base de cadarço movendo a roldana do motor. Sim, dava-me um prazer mesquinho deixá-la para trás. Esse era sempre um pequeno desafio a ser vencido. Puro deleite egoísta. Um venial pecado matutino, nada mais. Minha graça terminava logo. Não sei o porquê, mas a tal Dona Maria sempre já estava no ponto do ônibus coletivo (este convencional) quando eu passava por lá. Boas dezenas de metros na minha frente. A mulher pegaria carona com o escolar assombrado? A vantagem foi ver que o pecado da ultrapassagem já fora vingado, dispensando-me, na minha teologia própria, da confissão deste e de outros semelhantes. Para eu não baixar a crista, continuei deixando-a para trás quando conseguia mirá-la pelo caminho. Nem quis saber. Ficasse ela com o mistério, e eu, com meu pecado perdoável. E ficamos conversados.
Enigma também no moço do guarda-chuva. Previsível, pontual. Tanto que quase o esqueci neste conto. Com sol ou não, está lá. Parado, olhando para um lugar alto e fixo montado psiquiatricamente em uma direção diferente a cada dia. Sentinela da natureza. Que o digam as galinhas gordas e bravas alinhadas num poleiro da casa vizinha à loja de carros antigos. Pelo menos tem um serviço. Se ele sumir, sentirei falta.
Rua que assombra e é assombrada. Ontem, ia com meu novo carro velho. Devagar. A experiência adquirida em pouco mais de uma década me permitiu ser menos apressado, pelo menos ali. Olhar mais atencioso àquela trilha com nome. Atrás de mim, uma nuvem gigantesca. Chuva rodeante e dependurada para cair. Trovão em tom de caçamba despejando pedra. Subia pela única colina do trajeto uma senhora. Mais uma usuária da estrada urbana. Confiante e caridoso, freei. Falei da tempestade vizinha. Abri a porta. E ela negou a carona... Esqueci-me das regras da metrópole. Com minha gentileza, dei-me por errado. Valor invertido, mais um.
À noite, encontrei-me com um amigo, companheiro de passagens mais retas. Contou-me que uma de suas colegas do trabalho chorou o remorso encharcado. Perto do aeroporto, ela negou uma carona oferecida. Pensava depois ser a do próprio anjo da guarda.
Alessandro Faleiro Marques é professor, redator e revisor de textos
Texto original publicado no site Caos e Letras (www.caoseletras.com)